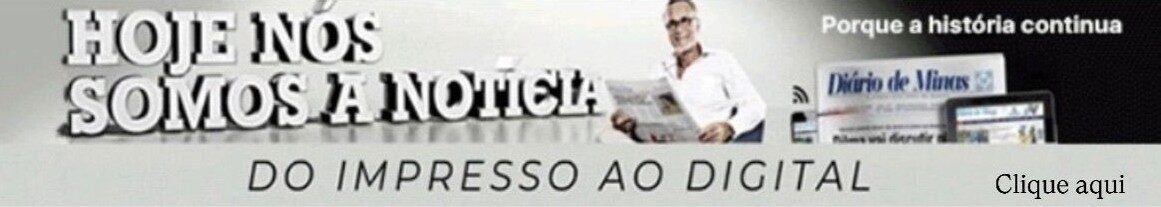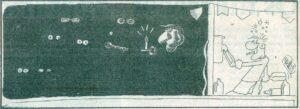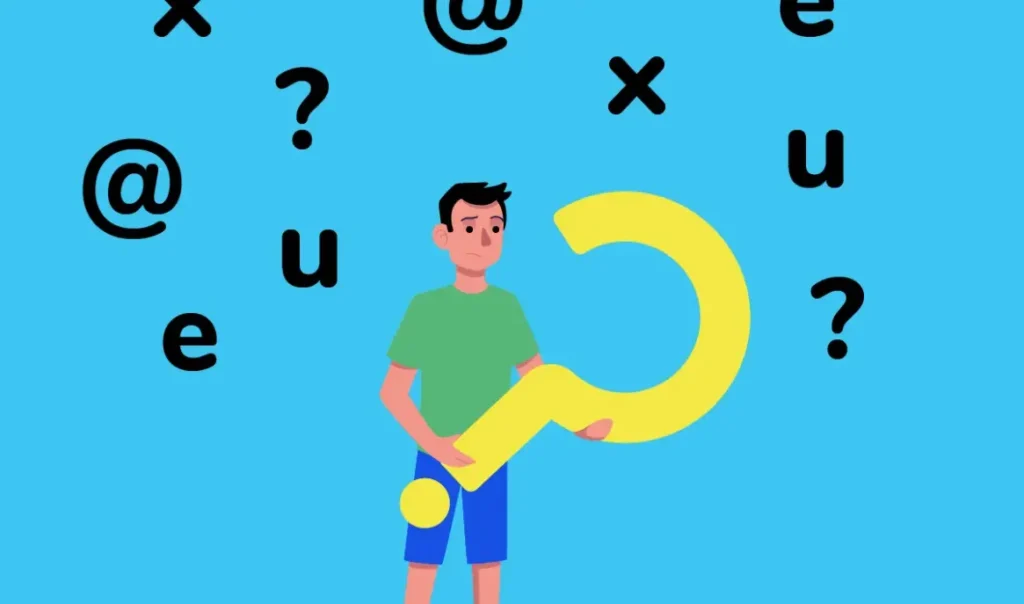
Por trás de toda linguagem há sempre uma cosmovisão, uma forma específica de enxergar o mundo e o ser humano nele inserido. CRÉDITOS: Freepik
14-04-2025 às 09h28
Claudio Siqueira*
Antes de discutirmos neutralidade linguística, precisamos enfrentar barreiras muito mais urgentes: garantir uma alfabetização plena, entregar aos estudantes o domínio efetivo do português brasileiro e das noções matemáticas básicas, ferramentas concretas para que possam transformar e dominar sua realidade cotidiana. A linguagem precisa ser um instrumento vivo de transformação social, não mero adorno simbólico. Paulo Freire nos ensinou que a palavra deve estar a serviço da práxis — do dizer que transforma — e não de discursos ocos de poder e distantes da realidade. A escola pública deve ser, acima de tudo, território onde se restaura ao indivíduo sua consciência crítica e de classe.
Vivemos em um país atravessado por desigualdade profunda e precariedade estrutural; é nesse contexto que recai minha atenção sobre a pauta da linguagem neutra. Não se trata de negar qualquer avanço legítimo rumo à inclusão e dignidade humanas; pelo contrário, valorizo sinceramente todas as tentativas autênticas de acolhimento. No entanto, paira sobre essa questão um ruído sintomático, reflexo da eterna evasão brasileira diante das questões essenciais. Em tempos de polarização política e embates rasos nas redes, interpretar texto tornou-se habilidade muito mais urgente do que aprender o uso de pronomes neutros em um idioma já estruturado e complexo como o nosso.
Quando pautas como a linguagem neutra, frequentemente defendida por setores acadêmicos ou sociais privilegiados, ganham prioridade, distanciam-se das necessidades urgentes das periferias: infraestrutura escolar adequada, acesso a materiais didáticos dignos, combate ao analfabetismo funcional. Enquanto milhões enfrentam diariamente a miséria, desemprego e exploração, a linguagem neutra corre o risco de se tornar mais uma exclusividade dos poucos que dominam códigos culturais e sociais inalcançáveis para a base. Gramsci nos ensinou que a cultura dominante se perpetua por meio da linguagem, impondo seus valores como se fossem verdades naturais e universais. Precisamos perguntar a quem realmente serve essa agenda, e que interesses ela pode sustentar.
Muitos especialistas, filósofos e terapeutas debatem e opinam sobre a questão sem jamais terem pisado numa sala de aula ou vivenciado as dificuldades reais dos educadores. Por exemplo, professores enfrentam turmas superlotadas, materiais didáticos insuficientes e ambientes precários, ao mesmo tempo que recebem pressão constante para abordar questões sociais complexas e controversas. Bell Hooks salienta que a sala de aula não deve ser tratada como laboratório de experimentos ideológicos alheios à realidade vivida por educadores e alunos. Os próprios professores apontam o esgotamento diante dessa sobrecarga contínua, onde responsabilidades que deveriam ser compartilhadas por toda a sociedade são deixadas exclusivamente a eles.
A linguagem neutra, se desvinculada da realidade material do povo, será apenas verniz acadêmico, uma cortina de fumaça frente aos dramas reais vividos diariamente. Ela só fará sentido como construção ética e política quando vier acompanhada de políticas públicas efetivas: investimentos robustos em educação básica, programas amplos de formação continuada para professores, acesso irrestrito a materiais didáticos atualizados e infraestrutura escolar digna. Florestan Fernandes nos lembra que só haverá democracia real quando a educação pública funcionar como ferramenta concreta de superação das desigualdades estruturais — e não como vitrine simbólica de inclusão.
Necessitamos de uma linguagem que construa pontes concretas entre margens e centros, entre quem fala e quem escuta, entre quem sofre a realidade e quem teoriza sobre ela. Se buscamos uma linguagem realmente inclusiva, esta deve primeiramente reconhecer e transformar as condições materiais que excluem sistematicamente milhões de brasileiros do exercício pleno da cidadania. Por trás de toda linguagem há sempre uma cosmovisão, uma forma específica de enxergar o mundo e o ser humano nele inserido. O neurocientista António Damásio diz que a linguagem emerge das experiências corporais e culturais compartilhadas, sendo moldada por afetos, história e sociabilidade. A norma linguística, portanto, não é imposta de cima para baixo, mas consolidada quando a cultura é assimilada e retransmitida pela coletividade que a sustenta.
* Claudio Siqueira é jornalista, editor de vídeo, acadêmico de antropologia na UNILA, trabalha no H2FOZ portal de notícias de Foz do Iguaçu.