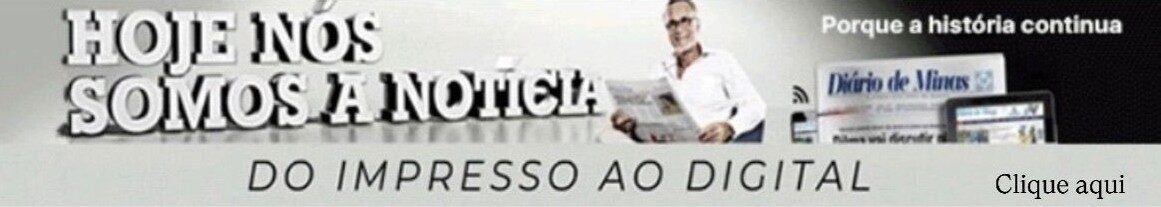Plenário do Senado Federal durante sessão não deliberativa. Em discurso, senador João Capiberibe (PSB-AP). Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
21-07-2025 às 09h49
João Capiberibe (*)
“A solidariedade não é um ato de caridade, mas uma ajuda mútua entre forças que lutam pelo mesmo objetivo.”
— Samora Machel
Uma lembrança dos tempos em que vivemos no coração da África, no fio da esperança e da pólvora
Da minha mesa no gabinete do Senado, basta um olhar para a parede e aquela foto ali se faz trecho da nossa história. Não é recente! Na verdade, é antiga — de bem antes do Photoshop, do tempo da revelação em preto e branco. Ao meu lado aparecem Sibilla e Sulila; às nossas costas, o jeep Land Rover. Um dia, os apresentei às minhas assessoras Greyce e Cristiane:
— Esses dois da foto foram meus auxiliares quando trabalhei em Moçambique.
— Em que ano, senador? Estão vivos? — perguntaram-me.
Sortudos, esses dois! Depois lhes conto por quê… Sim, acredito que estejam vivos.
Eu, Janete e os filhos — Artionka, com oito anos, e os gêmeos Camilo e Luciana, com seis — chegamos a Moçambique no comecinho de 1978, três anos depois da independência do país, conquistada após uma década de guerra contra o domínio colonial português. Era como se estivéssemos chegando ao Brasil de 1825. Mas, em vez de um português com o cordão umbilical preso à metrópole, como Dom Pedro II, encontramos um ex-guerrilheiro moçambicano da gema: Samora Machel, comandante da FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique) e líder do governo recém-instalado — um homem de poucas conversas com seus opressores históricos.
Outra diferença: enquanto, no Brasil, os portugueses ficaram, preservando seu patrimônio, em Moçambique, acossados pela volta do cipó, debandaram em desespero — e o que não puderam levar, cuidaram de destruir.
Vazou todo mundo! O país paralisou. Em Maputo, uma cidade de arranha-céus, imaginem prédios de trinta andares sem assistência técnica para operar um único elevador. Os poucos que não fugiram, somados aos que chegavam das aldeias — e de todo o mundo, para ajudar a reconstruir o país — viam-se obrigados a subir pelas escadas até seus apartamentos. Ironicamente, quem morava no décimo quinto se consolava fazendo chacota de quem morava no vigésimo. Uma loucura! Terra arrasada foi o que encontramos: herança cruel de séculos de dominação colonial.
Ainda assim, demos sorte. Depois de três endereços, no quarto acertamos: fomos morar num espaçoso apartamento de frente para o mar, no segundo andar de um triplex na Avenida Friedrich Engels, a poucas quadras da Rua Karl Marx, e não tão longe da Mao Tse Tung, onde morava meu amigo Duarte. Esses nomes emblemáticos de ruas e avenidas nos davam a sensação de que havíamos pousado no paraíso utópico da revolução socialista — pelo menos nos primeiros dias. Depois, claro, a realidade mostrou que o buraco era mais embaixo.
Duarte, o marinheiro que encontrei em Maputo, tinha servido sob o comando do almirante Aragão na resistência ao golpe civil-militar de 1964. Foi preso. Nem lhes conto: comeu o pão que o diabo amassou. Os milicos da ditadura o enfiaram no inferno de Dante, até o nono ciclo. Chegaram a pendurá-lo num helicóptero sobre a Baía da Guanabara, com pedras amarradas ao corpo, enquanto o interrogavam e ameaçavam cortar a corda. Escapou. Em outubro de 1970, foi trocado pelo embaixador da Suíça, Giovanni Enrico Bucher, sequestrado por uma organização armada de esquerda. Duarte dormiu no inferno e acordou no paraíso. À época, a liberdade morava em Santiago do Chile — foi para lá que ele voou, junto com outros sessenta e nove presos políticos. O marujo insubmisso hoje vive em Goiânia. Dias atrás, comemorou seus 74 anos de vida e irreverência, rodeado de amigos e admiradores. A emoção de estar lá, reafirmando nossa sólida amizade, é indescritível.
Como eu e Janete, Duarte, Mara, Reinaldinho, Rafton, Juarez, Arabela, Nilson, Wilson Negão, Suzuki, Solange, Samuca, Rute, Fabre, Ricardo, Célia, Reginaldo, Sônia, Toulipan, Nena, Maria, Philippe, Etevaldo, Eunice, Celine, Pio, Áurea, Elimar, Cristina, Irene, Bené, Lutero, Marcão — e mais uma centena de egressos do Chile — vivíamos nosso terceiro exílio em Moçambique. Gente jovem, porém calejada pelas asperezas da vida, com histórias emocionantes de resistência e luta.
— Mas por que Moçambique? — interrompeu-me Greyce. — Com três crianças pequenas, trocar Montreal por Maputo recém-saída da guerra nos parece quase incompreensível…
Verdade. Mas acho que a explicação do passado está no presente. Os motivos que nos levaram a cruzar o Atlântico para viver em um país recém-saído de uma guerra colonial, ainda com graves conflitos internos, são os mesmos que hoje turbinam nossos mandatos: o meu, no Senado; o de Janete, minha companheira de vida e luta, na Câmara Federal. Sim, continuamos quase os mesmos, correndo atrás das mesmas utopias, ansiando por uma sociedade justa, democrática, sem preconceitos e sem discriminação. E você, Greyce, que é jornalista, sabe: acompanha minha interlocução com os mais vulneráveis, os que, a duras penas, lutam por direitos. Representá-los no Parlamento nos dá uma tremenda energia — e explica por que fomos morar em Moçambique.
Os da foto pendurada na minha parede
Sibilla é cubano. Sulila, moçambicano. O primeiro, técnico agrícola, filho de camponeses analfabetos, nascera com destino traçado — seguiria o rastro dos pais, se Fidel não tivesse atravessado em seu caminho para lhe abrir a porta de uma sala de aula. Estudou técnicas agrícolas graças à Revolução Cubana. Não apenas concluiu os estudos, como — disso muito se orgulhava — foi selecionado para as brigadas de solidariedade internacional. Estava ali para servir à revolução moçambicana. Era o que me dizia em longas conversas durante nossas viagens.
Sulila era motorista de carreira do Ministério da Agricultura. Tinha a sorte de ser um em cada vinte moçambicanos com emprego estável. Pouco falava. Limitava-se ao essencial da profissão. Trabalhava comigo desde que o Jeep, vindo da Inglaterra, doado pela cooperação canadense, chegou a Maputo. Lembro dele me dizendo:
— Camarada Dr. João, não esqueça de levar alguma coisa para comer!
É que toda segunda-feira, bem antes do sol emergir do Índico, com Sulila ao volante, deixávamos Maputo pela única via pavimentada do país, seguindo em direção norte. Duas horas depois, virávamos a oeste; em mais vinte minutos, cruzávamos a passagem de nível sobre o rio Incomati, contornávamos o vilarejo de Magude e voltávamos à estrada. Dali em diante, só terra batida — difícil de trafegar na estiagem, de abril a setembro; quase impossível na época chuvosa.
Nosso primeiro destino era Chobela, uma das duas fazendas de gado destinadas à seleção de reprodutores. O projeto, à época, era coordenado pela FAO, com suporte da cooperação canadense e cubana. Eu, zootecnista recém-formado pelo Instituto de Tecnologia de Saint-Hyacinthe, em Quebec, estava ali em missão de cooperação, enviado pelo SUCO (Serviço Universitário Canadense de Além-Mar); Sibilla, técnico agrícola da cooperação cubana. Éramos responsáveis pelo manejo dos rebanhos em duas fazendas: em Chobela, para produção de leite; em Mazimuchopes, na fronteira com o Parque Kruger (África do Sul), para produção de carne, de uma raça nativa cujo nome o tempo apagou da minha memória. Enquanto Sibilla e eu nos ocupávamos do rebanho, Sulila cuidava da cozinha e preparava as refeições que, por sua recomendação, levávamos de Maputo.
Sobre Mandela
— O senhor conheceu o Nelson Mandela? — perguntou Cristiane.
Não. Não tive esse privilégio. Nos dois anos que vivemos em Moçambique, ele ainda estava preso na Ilha de Robben, no Índico. Passou ali a maior parte dos seus 27 anos de cárcere, submetido a trabalhos forçados e humilhações inimagináveis. À época, pouco se sabia dele. Não imaginávamos que seria um vencedor, um dos maiores líderes morais e políticos de nosso tempo.
A liberdade mudou de endereço em 11 de setembro de 1973. Pinochet surgiu para o mundo, cruel e sanguinário, comandando o assassinato de Allende e de milhares de chilenos, esmagando a democracia. Os brasileiros e brasileiras exilados se dispersaram. Eu, Janete e as crianças fomos para o Canadá. Mara, que conheci em Santiago, foi para Paris. Mais tarde, nos reencontraríamos em Maputo.
Foi ela quem me falou, com paixão, de Mandela. Fiquei estarrecido. Indignou-me profundamente a descrição que fez do regime de segregação racial na África do Sul. Brancos — menos de 10% da população — controlavam 100% do poder do Estado. Impunham leis horrendas que separavam negros, brancos e indianos em hotéis, escolas, bairros, praias, hospitais. Caso insistissem em entrar, eram presos e espancados pela polícia branca. E pensar que tudo isso era “legal” — lei feita sob medida para manter o terror da maioria.
Mara — assim chamávamos carinhosamente Marluza Corrêa Lima — morava na Avenida Vladimir Lenine, quase em frente ao Hotel Aviz, onde passamos nossas primeiras semanas em Maputo, uma verdadeira babel. Além dos russos, chilenos e suecos, havia coreanos que atormentavam nossos filhos com histórias de um personagem que eles jamais tinham ouvido falar: Kim Il-sung, ditador da Coreia do Norte, que os coreanos cultuavam como se fosse Deus. Pior: os importunavam com a grotesca brincadeira de tentar levantá-los do chão puxando suas bochechas.
Nossas crianças, para escapar dos coreanos e da monotonia do hotel, fizeram amizade com Melissa, filha de Mara, e passaram a frequentar sua casa, onde era comum vermos caixas empilhadas em um dos cômodos. Corria à boca miúda que se tratava de armas e munições a caminho da África do Sul, para abastecer a luta armada contra o apartheid, liderada pelo partido de Mandela.
A cerveja escassa de cada final de semana
Num domingo de setembro, eu, Duarte e Reinaldinho, depois da pelada, percorremos os quatro cantos de Maputo atrás de Laurentina. Desanimados, quase sucumbindo à 2M, batemos na porta de um monhê — assim eram chamados os indianos que dominavam o varejo no tempo dos portugueses e que ainda resistiam, a duras penas, em manter seus comércios.
Por minhas características físicas, era frequentemente confundido com um deles. Cumprimentavam-me numa língua estranha que eu não compreendia, mas essa confusão me dava uma enorme vantagem na disputa pela cerveja. Nesse dia, demos sorte: encontramos uma mina de Laurentina, objeto dos nossos desejos. Tomamos algumas, compramos o restante e seguimos para minha casa.
Perdemos a hora. Já passava da meia-noite quando os dois se despediram. Acordei às quatro da manhã, ainda mareado, com Sibilla e Sulila batendo à minha porta. Apressei-me, desci e entrei no Land Rover. Partimos. Rapidamente atravessamos a cidade adormecida, mas não fomos longe. Mal pegamos a estrada, meu estômago embrulhou. Tentei seguir, o mal-estar não permitiu. Voltamos. Deixaram-me em casa e retomaram a viagem.
Sorte? Foi o que disseram.
Perdi a manhã curando a ressaca. À tarde, refeito, voltei ao trabalho. No Ministério da Agricultura, onde eu, o agrônomo holandês Gerard Rootselaar e o veterinário cubano Crispín compúnhamos a equipe técnica do programa de seleção de reprodutores do Departamento Nacional de Pecuária, estávamos reunidos quando a secretária cochichou ao meu ouvido: Sulila estava na antessala. Precisava falar comigo com urgência.
— Não é possível — respondi. — Ele está viajando.
— É ele sim — disse ela. — Conheço-o há muito tempo. Está aflito.
Pedi licença, retirei-me e fui ao seu encontro. A secretária tinha razão. Sulila, visivelmente nervoso, ao me ver ficou ainda mais aflito. Mal conseguia falar. Puxou-me pelo braço, descemos as escadas, e no estacionamento me mostrou o Land Rover:
— Choveu bala, camarada Dr. João! Muita bala pra cima da gente! Tive muita sorte, escapei por milagre! Olhe o que fizeram!
Mostrou os buracos de bala na lataria do carro.
— Vi um helicóptero estacionado na cabeceira da ponte da estrada de ferro, e alguns soldados brancos. Vinham da Rodésia (hoje Zimbábue). Foi de lá que partiram os tiros.
Perguntei por Sibilla. Atabalhoado, respondeu que não sabia.
— Em vez de seguirmos pela estrada, decidimos cortar caminho pelo leito seco do rio Mazimuchopes. Estava sem uma gota d’água. Quando passávamos próximo à ponte, ouvimos um estalo, como pedra atingindo o carro. Em seguida, um zunido — era bala de verdade! Descemos às pressas. Eu me joguei no chão e me fingi de morto. Sibilla se escondeu debaixo do carro e depois saiu se arrastando. Logo o perdi de vista. O helicóptero decolou, e em seguida ouvi um estrondo. A ponte voou pelos ares. Depois, o silêncio.
Chegaram os soldados das Forças Populares, contei-lhes tudo, falei do Sibilla e voltei. Antes de vir ao ministério, passei na sua casa. Só encontrei os miúdos (crianças, no português de Portugal). Eles examinaram os buracos no carro.
No ministério, andávamos tensos, economizando palavras. Cada vez que a porta se abria, esperávamos ver Sibilla. Os dias passaram, e nada.
No fim da tarde do quinto dia, quando nos preparávamos para ir embora, fomos chamados ao gabinete do diretor Carlos Felner, que nos comunicou: Sibilla fora encontrado. Estava bem, apesar de tudo.
Queríamos vê-lo imediatamente, mas não nos foi permitido. Tivemos de esperar mais uma semana. Quando finalmente chegou, ainda abatido e com escoriações, foi recebido com festa. Depois dos abraços, sentamo-nos para ouvir seu relato.
— Suerte, muita suerte, hombre! — foram suas primeiras palavras.
— Ouvi as balas, vi o helicóptero sobre a ponte. Desci rápido e rolei para debaixo do carro. Imaginei que iriam explodir a ponte e depois lançar uma granada sobre o carro. Saí me arrastando pelas pedras do rio, subi a margem e entrei na mata. Caminhei — na verdade, corri. Ouvi o helicóptero, depois a explosão. Esperei a granada, mas ela não veio. Resolvi voltar, mas me perdi.
— Encontrei um grupo de pessoas. Muitas crianças. Ao tentar me aproximar, recolheram os pequenos e desapareceram na mata. Isso se repetiu várias vezes até que, no quinto dia, vi uma choupana. Entrei de supetão, agarrei o velho. O menino correu, mas logo voltou. Por gestos, consegui explicar que estava perdido. Algumas horas depois, ele voltou com uma patrulha do Exército Moçambicano.
Expliquei quem era, o que fazia ali, e perguntei sobre as pessoas escondidas na floresta.
— Quando há ataques de tropas mercenárias vindas da Rodésia, a população se refugia no mato — disse o comandante. — E fugiam de você com medo, pensando que fosse um soldado branco.
É verdade, eles tiveram sorte.
E eu?
Sempre que lembro desses fatos, me pergunto:
— O que teria acontecido comigo se não tivesse tomado aquelas cervejas a mais?
(*) João Capiberibe foi prefeito de Macapá, governador do Amapá e Senador da República. Hoje, é empresário e ambientalista