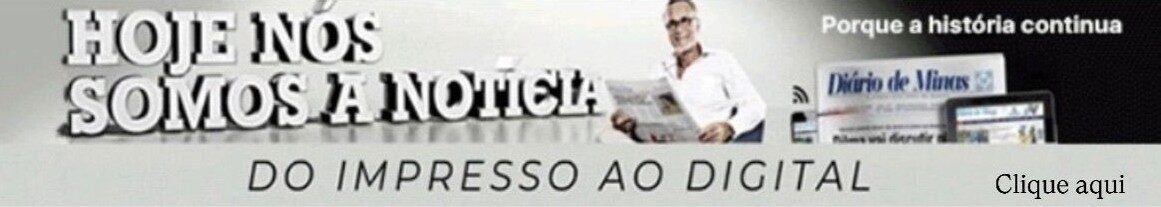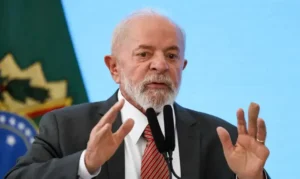02-11-2025 às 09h33
Marcelo Galuppo[1]
A natureza é o reino da violência, que se apresenta, em primeiro lugar, como aleatoriedade: ao sair de sua toca ou de seu ninho, nenhum animal pode saber se para lá retornará ao final do dia. É assim porque a natureza não estabelece distinções, tudo para ela é indiferente (o filósofo David Hume dizia que, do ponto de vista do Universo, há muito pouca diferença entre um ser humano e uma ostra). E essas duas características conduzem a uma terceira: a ausência de plano, de projeto, capaz de gestar um futuro diverso do presente. Um animal, seja uma vaca ou um leão (não importa que o chamemos de rei da selva), não pensa no dia de amanhã, e age sempre arrastado pelo acaso, condenado a viver apenas o agora.
Nos últimos anos a literatura de autoajuda tem ensinado que viver apenas o presente é bom. Não é: esta é a vida dos bárbaros, incapazes de escolher fins para sua existência ou meios para realizá-los. Aristóteles pensava que o ser humano colocou-se acima desse destino quando organizou sua vida por meio da política, que permitiu-lhe descolar-se do imediatismo da vida biológica para criar uma vida espiritual, com suas hierarquias que permitem avaliar o mundo e dizer que há coisas preferíveis a outras.
Isso não significa que a violência desapareceu, mas ela foi ao menos ressignificada e mantida sob controle. Se é verdade que a aleatoriedade, a indistinção e o improviso reaparecem cotidianamente na cidade (quando um elevador cai e mata seus ocupantes, ou ainda quando um criminoso violenta outro ser humano, desconhecendo os limites que a vida digna de alguém impõe aos outros), a violência passou a ser concebida, como diz sua etimologia, como uma violação da lei, que estabelece o que alguém pode esperar dos outros, e por isso é um distúrbio no que deveria ser a política e a moral, e não a regra, como acontece na natureza.
Mas aí surge o inominável: é quando a política, corrompendo-se na sua estrutura, na sua função e no seu fundamento, passa a utilizar-se da violência, primeiro como técnica, depois como objetivo. Guerras e violência policial são mecanismos usados não apenas para distinguir, mas para transformar-nos no que somos.
Achille Mbembe escreveu sobre isso em seu livro Necropolítica, de 2003(publicado no Brasil em 2017, pela N-1 Edições), e é um indício do fracasso civilizatório da política reconhecer que ele continua tendo razão, e que sua denúncia parece indicar antes a estrutura antropológica do ser humano do que uma falha ética de seu comportamento.
Mbembe usou a expressão necropoder para falar da capacidade de se determinar quem deve morrer. Esse poder tem uma natureza instituinte do que é (e do que não é) considerado um ser humano e um cidadão de bem. O necropoder explica as “várias maneiras pelas quais, em nosso mundo contemporâneo, as armas de fogo são dispostas com o objetivo de provocar a destruição máxima de pessoas e criar mundos de morte, formas únicas e novas de existência social, nas quais vastas populações são submetidas a condições de vida que lhes conferem o estatuto de mortos-vivos” (p. 71). Trata-se de um novo conceito de soberania, que determina quem escolhe quem viverá e quem morrerá, sejam traficantes, sejam policiais. Ele não é exercido apenas pelo Estado, pensa Mbembe, mas origina-se sempre nele. E ele não precisa efetivamente matar para ser exercido: basta instalar o medo e negar o pertencimento de todos ao mesmo grupo. Para isso, o necropoder precisa “manter diante dos olhos da vítima – e das pessoas a seu redor – o espetáculo mórbido do ocorrido” (p. 61).
O necropoder se exerce não apenas com a morte de 121 pessoas na operação realizada no Morro do Alemão e na Penha, no Rio de Janeiro, mas também com as centenas de fuzis apreendidos e midiaticamente apresentados, sem a necessidade de qualquer comentário, porque a simples imagem foi capaz de instituir o medo na classe média. E também se exerce na publicização das imagens dos mortos pela guerra que se instalou. Provavelmente muitos deles eram de fato criminosos, talvez até tenham cometido crimes hediondos, mas sua culpabilidade é irrelevante: a exposição tem por objetivo instituir o medo nos outros, nos que foram escolhidos para manterem-se como mortos-vivos, os moradores das comunidades atingidas. Mortos, porque não possuem quaisquer direitos frente àqueles que se submeteram voluntária e precocemente ao necropoder, os moradores da zona sul. Vivos, porque continuam sobrevivendo enquanto forem úteis ao sistema da necropolítica. Somos todos vítimas da necropolítica, criminosos, policiais, cidadãos de bem. Mas somos também seus agentes, e é nessa ambiguidade que reside sua tragédia.
[1] Marcelo Galuppo é professor da PUC Minas e da UFMG, e autor do livro Os sete pecados capitais e a busca da felicidade, da editora Citadel, dentre outros (conheça o livro aqui). Ele escreve quinzenalmente aos domingos no Diário de Minas.