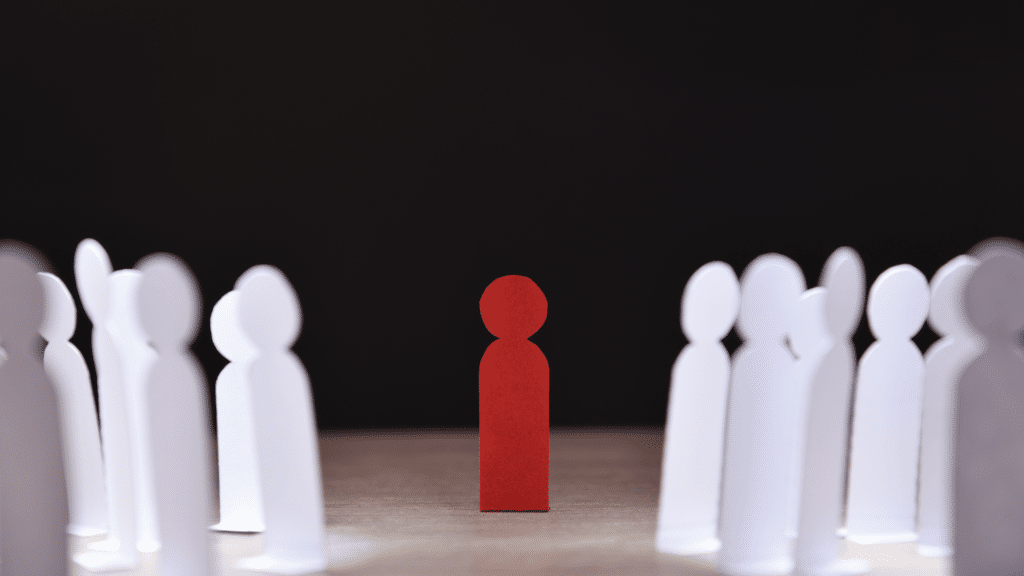
Não devemos lutar para entrar no sistema, mas para derrubá-lo! C´REDITOS: D}ivulgação
O que me choca é ouvir algumas pessoas, diante das notícias acerca do “surubão do Arpoador”, dizerem que, se os gays fossem menos “promíscuos”, não sofreriam discriminação ou preconceito.
09-01-2025 às 09h55
Philippe Oliveira de Almeida*
O grande cantor e compositor Cazuza não foi o único a vagar pela “lua deserta das pedras do Arpoador”. Com efeito, a topografia do local – descrita pelo cronista carioca João do Rio como “paisagem lunar” – foi, ao longo das décadas, muitíssimo frequentada por surfistas, hippies, artistas… Formação rochosa situada na bela praia de Ipanema, o Arpoador, ainda hoje, é um dos principais pontos turísticos da Cidade Maravilhosa. E, no dia 1º de janeiro, tornou-se cenário de uma enorme polêmica. Mais de 30 homens foram flagrados realizando uma enorme orgia entre as pedras (em comemoração ao Réveillon?). O “surubão do Arpoador” virou caso de polícia: uma investigação foi aberta pela Polícia Civil, que prometeu usar tecnologia de reconhecimento facial para identificar os envolvidos.
A prática do “cruising” (isto é, da “pegação” em lugares “impróprios”) não é estranha ao universo gay. Trilhas, banheiros públicos, praias, estacionamentos, de tempos em tempos são eleitos, por homens homossexuais e bissexuais, como locais de “peregrinação”, onde podem, eventualmente, encontrar parceiros para aventuras “íntimas” – ou nem tão íntimas, considerando que, no mais das vezes, ocorrem em público. Melhor seria defini-las como “êxtimas”, recorrendo ao jargão psicanalítico.
Há, inclusive, um extraordinário – e polêmico – filme, lançado em 1981, que recebeu o título de ‘Cruising’ (no Brasil, optaram por renomeá-lo como ‘Parceiros da noite’). Dirigido por William Friedkin (o cineasta responsável pelo clássico ‘O exorcista’) e protagonizado por Al Pacino, ‘Cruising’ é um thriller sobre um policial que precisa se disfarçar e se inserir em bares de gays sadomasoquistas para investigar uma série de assassinatos, na cidade de Nova York. O sexo casual com estranhos é o mote de ‘Cruising’ – gradualmente seduzido pelo mundo do couro e do látex, o protagonista deixa de ver seus “parceiros da noite” como “tarados” ou “pervertidos”, e começa a se perguntar se a verdadeira depravação não estaria na sociedade “regular”, “normal”, obcecada em policiar a sexualidade dos outros. Outros excelentes filmes utilizaram-se do “cruising” como ponto de partida: é o caso do suspense francês ‘Um estranho no lago’ e da comédia romântica estadunidense ‘Fire Island: orgulho & sedução’ (livremente inspirada na obra de Jane Austen).
Longe de mim defender, na imprensa, a realização de “atos obscenos” em público – delito previsto no artigo 233 do Código Penal. Mas o fato é que, por séculos, homossexuais foram perseguidos, vilipendiados e agredidos… Não estranha que tenham criado estratégias para se relacionar (fora das vistas da família e dos vizinhos) e construir uma vida afetiva e erótica. A maior parte das grandes cidades, nos dias atuais, tem lugares usados regularmente, por homens gays, para a prática do ‘cruising’ – faz parte do processo de “socialização” de jovens homossexuais conhecer o “mapa secreto da pegação” da cidade onde vivem. Cantado por Cazuza e celebrado por João do Rio, o Arpoador – e isso talvez seja um choque para os amigos héteros que me leem! – é, há anos, palco de orgias gays. Só calhou que, dessa vez, o evento foi filmado.
O que me choca é ouvir algumas pessoas, diante das notícias acerca do “surubão do Arpoador”, dizerem que, se os gays fossem menos “promíscuos”, não sofreriam discriminação ou preconceito. É a fantasia do homossexual “discreto e fora do meio”. Como a filósofa afro-americana Angela Harris, em vários escritos, argumenta, indivíduos de comunidades segregadas muitas vezes sentem-se responsáveis pela rejeição que sofrem. Iludem-se acreditando que, caso alcancem os “padrões de moralidade” impostos pelo establishment, serão acolhidos e reconhecidos. Esforçam-se por se ajustar, o mais possível, à sociedade “regular”, tentando cruzar aquilo que Harris chama de “linha de abjeção”.
É o motivo de muitas pessoas negras, vivendo na periferia, sempre saírem de casa com a carteira de trabalho no bolso e a Bíblia debaixo do braço – na esperança de que isso as livre de enquadros da polícia, instituição estruturalmente racista, no Brasil. “Sofri um esculacho dos milicos por estar com uma blusa do Planet Hemp, e não da Aline Barros? Por estar de capuz? Por ter dreadlocks, e não um corte de cabelo social?”… Assim, culpamo-nos por não alcançarmos os impossíveis padrões de “aceitabilidade” (e de “passabilidade”) que a sociedade exige de nós.
Muitos gays, no correr dos séculos, foram seduzidos por essa quimera, castrando-se para se adequar às normas de comportamento estabelecidas por um mundo “hétero”. É esse, vale dizer, o leitmotiv da brilhante minisérie ‘Companheiros de viagem’, produção da Showtime que estreou em 2023. A obra trata de dois homens gays, de direita, que lutam para levar uma vida “discreta e fora do meio” nos Estados Unidos dos anos 1950. Eles estão no auge do macarthismo, período no qual a Guerra Fria serviu como desculpa para que o governo norte-americano empreendesse uma verdadeira “caça às bruxas”, acossando “comunistas” e “desviados”. O fato de serem profissionais exemplares, cristãos devotos e republicanos convictos não poupa os protagonistas de sofrerem toda sorte de violências – a começar pela violência que eles exercem sobre si mesmos, fingindo ser o que não são.
Não devemos lutar para entrar no sistema, mas para derrubá-lo! As conquistas históricas em termos de direitos para a comunidade lgbtqiapn+ não vieram de gays padrões “discretos e fora do meio”, mas de bichas bafônicas, destruidoras, divônicas – do tipo que comemora o Ano Novo no Arpoador, e não na “festa do Senhor” de Midian Lima na Praia do Leme. Que o digam as incríveis Marsha Johnson e Sylvia Rivera, protagonistas da Rebelião de Stonewall (o berço de boa parte das marchas gays que temos hoje, pelo mundo afora).
Na sociedade capitalista, a família nuclear patriarcal – o homem que protege, a mulher que sustenta, os filhos que obedecem… – é a primeira célula de produção, que fabrica trabalhadores educados, asseados e alimentados que gerarão lucro para os patrões. É de interesse do mercado disciplinar a vida sexual e afetiva dos operários, fomentar um modelo de família que não atravanque os “negócios”. Engels já falava disso, em 1884, no brilhante ensaio ‘A origem da família, da propriedade privada e do Estado’.
É por isso que práticas sexuais “dissidentes” (em especial, aquelas que não geram prole, ou seja, mais mão de obra para a linha de montagem) sempre foram encaradas como atos de subversão, caso de polícia. Como diria o cantor e compositor Milton Nascimento: “qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar”. Reivindicar maneiras alternativas de construir laços sexuais e afetivos é um modo de pôr em questão os padrões capitalistas de socialização e vida familiar. Esse é, saliente-se, o ponto de partida do excelente livro da psicóloga indígena Geni Núñez, ‘Descolonizando afetos: experimentações sobre outras formas de amar’.
Não há nada de novo nessa constatação: muitos intelectuais e ativistas envolvidos, desde os anos 1970, com a Revolução Sexual e com a Contracultura, viam no homoerotismo um ato de resistência, um meio para reconstruir nossas percepções sobre o que é o corpo, o que o é desejo, o que é o amor, o que é a civilização. Isso está na base dos escritos do americano Norman O. Brown (autor do clássico ‘Love’s Body’). Também está na matriz do trabalho intelectual da australiana Germaine Greer (do estupendo ‘A mulher eunuco’). É, ainda, o núcleo da filosofia dos italianos Mario Mieli e Luciano Parinetto (autores, respectivamente, de ‘Por um comunismo transexual’ e ‘L’utopia nel corpo’). Sexo é política, e homoerotismo é imaginação. Trata-se de experimentar jeitos diferentes de usar o corpo e construir vínculos, para além daquilo que o mercado espera (convertendo, de forma eugenista, a anatomia do trabalhador em uma engrenagem na máquina fabril). Não quero, aqui, pontificar sobre como as pessoas (homens e mulheres, cis e trans, hetero e homossexuais) devem dar vazão a seus desejos, mas, precisamente, militar em prol de um futuro no qual nos abstenhamos da tentação de tentar regulamentar o prazer alheio.
Entristece-me ver jovens gays atacando os “surubeiros do Arpoador” como se fosse o “cruising” o responsável pelo ódio que a sociedade nutre contra a população queer. É desesperador ver garotos, se descobrindo gays agora, cujos horizontes de expectativa se limitam a casar, adotar, frequentar a igreja e entrar para o exército. Aburguesamo-nos? A cultura gay está ligada à expansão das nossas concepções do que é uma vida sexual e afetiva digna, e não a processos de acomodação e conciliação com os valores instituídos. E que o Arpoador siga sendo um palco no qual Mart’nália possa “esperar seu amor”, e herdeiros de João do Rio e de Cazuza consigam flanar.
*Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)









