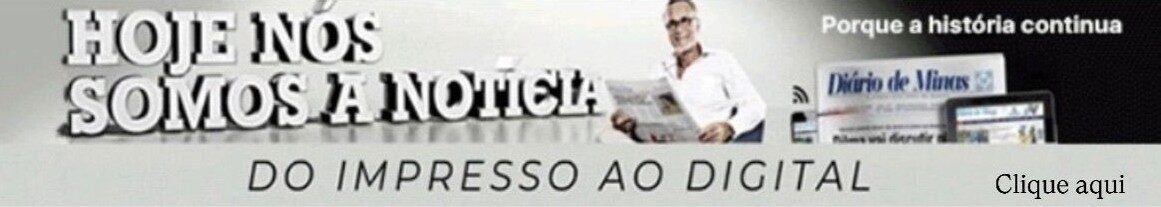Economia e políticas públicas eficazes - créditos: divulgação
30-07-2025 às 11h11
Por Natália Bracarense(*)
Há mais ou menos um ano, no congresso anual da Association for Heterodox Economics (Associação de Economia Heterodoxa), me pediram para falar sobre minha experiência na fronteira entre a academia e o mundo da formulação de políticas públicas como economista heterodoxa.
Para quem não está familiarizado, a economia é um campo altamente controverso, em que diferentemente de outras ciências sociais, economistas tradicionais negam a existência de uma visão alternativa a sua. Nesse contexto, economistas heterodoxos tendem a questionar as ideias econômicas tradicionais — conhecidas como ‘mainstream’ — que geralmente priorizam o livre mercado e uma eficiência econômica fictícia como foco político. Já a heterodoxia busca analisar os problemas econômicos contemporâneos, como desigualdade, poder, a sustentabilidade, e o papel de instituições com foco em transformar a realidade.
Com esse ponto de partida, preparei uma apresentação em três partes (a trajetória, a política pública, e os desafios) que acredito pertinentes para professores, estudantes, políticos, assim como um público mais amplo
Antes de trabalhar para a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), eu era professora associada em Chicago, até 2020, quando decidi me mudar para a França. (Confesso que não foi a decisão mais fácil que tomei na vida). Na época, era um passo rumo ao desconhecido: eu estava saindo de uma carreira acadêmica vitalícia, em tempo integral, e não tinha nenhuma ideia de qual seria a minha próxima destinação profissional. Alguns anos depois, me encontro numa fronteira: dando aula na universidade em período parcial, enquanto trabalho como consultora de políticas públicas.
Essa nova destinação, não sempre confortável, pareceu fechar um ciclo: quando criança, eu queria ser diplomata. Cresci em um Brasil marcado por desigualdades gritantes e acreditava que, representando o país no exterior, poderia contribuir para um mundo mais justo. Acabei escolhendo a economia com o objetivo de em seguida entrar no Instituto Rio Branco. Mas foi o contato com o pensamento crítico –John Maynard Keynes, Thorstein Veblen, Karl Marx – que me fez perceber que não seria possível representar governos que perpetuam injustiças sociais sem questioná-los. Foi assim que abandonei o sonho da diplomacia e entrei para o mundo acadêmico, decidida a estudar e ensinar uma economia comprometida com a transformação social.
Passei mais de dez anos na universidade, nos Estados Unidos, como professora e pesquisadora. Estudava temas abstratos, como a história das ideias econômicas e metodologia econômica. Mas com o tempo, percebi que, por mais importantes que fossem esses estudos, eles pouco dialogavam com os desafios concretos das pessoas. A abstração excessiva me deixou solitária, pois eu não tinha muitos interlocutores. Decidi então que precisava reconectar meu trabalho com o mundo real. Passei a colaborar com colegas em pesquisas mais empíricas e concretas. Essa iniciativa me reconectou com questões políticas e contemporâneas, o que revitalizou meu engajamento com a economia política.
Um desses estudos, em colaboração com um colega que fazia uma consultoria para a Organização Internacional do Trabalho despertou meu envolvimento com a formulação de políticas públicas. Esse envolvimento se materializou um dia durante a pandemia, quando, confinada no meu apartamento em Chicago, resolvi olhar o site da OCDE em busca de vagas para economistas. Percebi que precisaria atualizar meus conhecimentos em ciência de dados para ter uma chance. Então o fiz — e, um ano depois, estava trabalhando na OCDE.
Como analista de políticas públicas, enfrentei novos desafios. Primeiro, foi preciso revisitar o estilo de escrita, o formato das apresentações, o conteúdo, a escolha de expressões e assim por diante. Em resumo, meu público havia mudado: tornou-se mais impaciente, com menos tempo e menos atento aos detalhes. Em uma apresentação, eu não precisava detalhar todas as evidências que sustentavam meus argumentos. Em vez disso, precisava comunicar ideias complexas de maneira simples, eficaz e direcionada. Responder a perguntas como: quais são as implicações da análise? Ou: qual é a recomendação política?
Para resumir esse primeiro ponto, essas dificuldades iniciais me levaram a reflexões: como podemos preparar nossos alunos e doutorandos para navegar no mundo da formulação de políticas públicas? Quão preparados estamos, na academia, para abrir nossas descobertas a um público mais amplo? E, acima de tudo: queremos mesmo fazer isso? Se sim, estamos preparados — ou nos preparando — para sair da universidade e disseminar nossas ideias, democratizar nossos achados? Como economistas heterodoxos, muitas vezes afirmamos que os economistas ‘mainstream’ complicam demais o jargão, exageram na abstração e usam matemática excessiva com o objetivo de afastar o público do debate econômico e das decisões. Nós, heterodoxos, estamos fazendo um trabalho melhor em atingir o grande público? Estamos preparados e capacitados para nos comunicar com outras audiências?
Voltando à OCDE, para desenvolver meu segundo ponto: mais uma lição da transição. Fazer pesquisa em uma instituição política é muito diferente de fazer pesquisa acadêmica. Ainda não sei bem como me sinto em relação a isso. Primeiro, analistas de políticas não escolhem seus temas. Em vez disso, um governo faz uma pergunta, e você precisa respondê-la. Em segundo lugar, tudo é feito com senso de urgência, então raramente desenvolvemos a análise tão profundamente quanto eu gostaria. Além disso, as equipes são formadas por técnicos de diversas áreas: acadêmicos, políticos, estudantes, empresários, tecnocratas — o que exige muita paciência, negociação e concessões. Embora às vezes seja frustrante, geralmente gosto de aprender com meus colegas e encontrar soluções que satisfaçam a equipe e os clientes, nesse caso, os governos dos países membro. Mas sim, são necessárias muitas concessões — especialmente sendo uma economista heterodoxa, embora eu nem tenha certeza se a maioria dos meus colegas sabe o que isso significa. Claro, digo isso porque trabalho na divisão de governança pública, onde a maioria dos meus colegas não é economista.
E quanto ao meu papel como economista heterodoxa na OCDE? De certo modo, a formulação de políticas pode ser um ambiente fértil para uma economista heterodoxa: nada é preto no branco, enfrentamos problemas complexos e não fingimos que há uma única e simples solução — ao menos esse é o caso na OCDE. Na verdade, embora a OCDE ainda pressione por certa padronização nas políticas e favoreça a implementação de instituições ocidentalizadas, metodologicamente ela privilegia o pluralismo. Primeiro, as recomendações de governança geralmente são específicas ao contexto local, o que significa que, apesar de haver um objetivo orientado para o mercado/eficiência, o desenho do caminho leva em consideração as instituições locais, especificidades locais, e é construído junto com os atores locais. Como alguém que não iguala desenvolvimento a mercado ou eficiência, para seguir nesse trabalho, precisei encontrar algo a que me apegar. Os métodos pluralistas pareceram uma boa saída para manter a motivação. Nisso, encontrei espaço para discussões abertas, para compartilhar minha perspectiva honestamente e me sentir ouvida. Na prática, na maioria das vezes, minhas ideias foram incluídas nos relatórios e recomendações. Em outras palavras, os gestores dos projetos são bastante abertos e não se apegam rigidamente a abordagens, escolas ou métodos econômicos específicos.
Mas nem tudo são flores. O único veto que sofri veio de instâncias superiores e foi bastante ideológico — e inicialmente difícil de engolir. Ao discutir desenvolvimento, um colega e eu propusemos a utilização de um relatório da OCDE que adaptava os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) à análise do desenvolvimento regional e local. O coordenador superior da equipe desaprovou a ideia de alinhamento com a ONU, por considerá-la “muito envolvida com questões sociais”. Ele sugeriu uma abordagem diferente e adicionou um físico ao projeto, para impulsionar a quantificação. Lembro-me de ter ficado chocada e frustrada. Mas, no fim, o físico era bastante aberto e intelectualmente honesto, reconhecendo todas as limitações dos dados e modelos que conseguimos construir. Como resultado, esse se tornou um dos projetos mais gratificantes em que trabalhei na OCDE. A colaboração interdisciplinar foi uma experiência enriquecedora, os resultados foram recompensadores e as recomendações foram bem recebidas pelo governo. Aprendi muito com esse projeto — profissionalmente, pessoalmente e intelectualmente.
Isso me leva a outra reflexão: os técnicos da OCDE estão preocupados em resolver problemas, responder perguntas com um embasamento sólido. Eles próprios não estão necessariamente apegados a métodos ou teorias específicas. No entanto, a instituição tem um perfil a manter. Assim, tecnocratas de alto escalão, mesmo que não sejam economistas, tendem — por força do hábito ou por ideologia — a pressionar por perspectivas mais convencionais. Diante disso, como podemos recuperar o espaço em instituições econômicas internacionais nos quais atuaram economistas longe de convencionais como John Maynard Keynes, Nicholas Kaldor ou Michał Kalecki? Como romper com os hábitos das organizações internacionais de seguir apenas economistas ‘mainstream’?
Acho que isso é possível — é uma janela de oportunidade pode estar se abrindo.
Para desenvolver esse ponto, compartilho outra experiência recente. Ao escrever um estudo bibliométrico sobre desenvolvimento regional, fiquei surpresa ao constatar que economistas micro e macro, de todas as vertentes — especialmente os ‘mainstream’ — estão perdendo espaço no debate político.
De fato, a necessidade de recomendações políticas concretas para resolver problemas como pobreza, analfabetismo, fome e degradação ambiental tem afastado o debate político da comunidade científica. Uma análise de redes de citação mostra que o grupo mais citado e mais produtivo em desenvolvimento regional hoje é formado por organizações internacionais, que, por sua vez, estão se apoiando menos em conteúdo acadêmico e criando seus próprios materiais, perspectivas e métodos. Em outras palavras, esse espaço foi ocupado pelas visões — por vezes conflitantes — de instituições como OCDE, Banco Mundial, ONU, entre outras. Nesse contexto, economistas heterodoxos, poderíam aproveitar essa transição para fazer suas preocupações serem ouvidas no mundo das políticas públicas?
Essa pergunta me leva ao terceiro ponto que gostaria de compartilhar hoje. Como analista de políticas públicas, o maior desafio que enfrentei está relacionado ao uso de dados. Mais especificamente, às tentativas de fazer afirmações e recomendações “baseadas em dados”. Esse problema é mais amplo e generalizados, na era da ‘big data’ querem utilizar dados como se falassem por si mesmos. Porém, os dados muitas vezes são precários e incompletos. Sobre isso, tive alguns embates e experiências distintas na OCDE. Quando há fortes discordâncias entre membros da equipe, muitas vezes um gestor intervém e barra recomendações categóricas sem sustentação. Nas ocasiões em que pude presenciar essa dinâmica, fiquei aliviada. No entanto, suspeito que, se não houver alguém na equipe para sobressaltar essas falhas nos dados, os gestores tendem a ignorá-las — não por má-fé, mas pelo nível de abstração dos modelos de análise de dados, que os torna indecifráveis para a maioria dos não especialistas. Como resultado, recomendações sem base passam com mais frequência do que deveriam.
Essa experiência me leva à conclusão de que é desafiador — e ao mesmo tempo importante — ser uma economista heterodoxa trabalhando em uma organização internacional. Pode ser frustrante, porque esse trabalho tem impacto sobre governos sobre os cidadãos, mas às vezes os membros da equipe não parecem sensíveis às implicações políticas, ou não têm tempo para desenvolver os temas com profundidade. Ainda assim, pode ser recompensador: sinto que meus questionamentos, minha resistência em certos momentos, acrescentam nuances e enriquecem nossas discussões e resultados. Eu escuto e sou ouvida, aprendo e ensino, há troca e interdisciplinaridade. No entanto, o espaço de economistas heterodoxos ainda é muito estreito. Então, se ainda não ficou claro, repito: economistas heterodoxos, precisam pensar em formas de ganhar espaço. Não podemos apenas acrescentar nuances ou contestar afirmações infundadas. Precisamos fazer mais. A pergunta é: como ocupar esse espaço? Como fazer mais?
Não podemos nos limitar ao universo acadêmico. Precisamos sair, alcançar o público, tocar seus sentimentos. Por mais que o debate científico seja importante, todos podemos concordar que a economia é, acima de tudo, política. Além disso, o contexto universitário mudou desde os anos 70. Construir opinião pública exige ir além. Além da comunidade científica, além da crítica à economia ‘mainstream’, além das nuances. Não podemos deixar que a economia heterodoxa tenha o mesmo destino das línguas clássicas. Não tenho dúvida de que somos todos professores, pesquisadores e estudantes apaixonados. Mas, no fim das contas, precisamos nos lembrar por que escolhemos ser economistas heterodoxos.
(*) Natália Bracarense é economista, professora e consultora de políticas públicas para Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). É especialista em economia heterodoxa, desenvolvimento territorial e justiça social