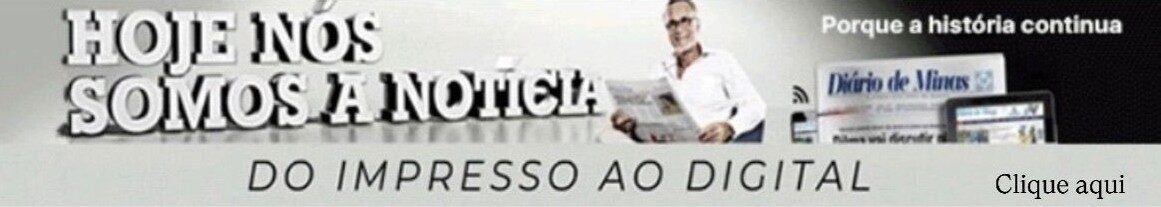TCE-MG presidido pelo presidente Durval Ângelo - créditos: TCEMG
16-10-25 às 15h20
Alberto Sena*
Ao rememorar como se deu o surgimento dos tribunais de contas no Brasil, o conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCEMG) Sebastião Helvecio faz, neste artigo, o que chamou de resgate de como se deu o surgimento dos 34 tribunais de contas do Brasil, por decisão plenária no XXVII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, quando, com apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e do Instituto Rui Barbosa (IRB), foi promulgada a Declaração de Vitória, que contempla as diretrizes e os compromissos das instituições
A primeira delas, como apontou o conselheiro é “desenvolver mecanismos e implementar ações para o fortalecimento institucional dos Tribunais de Contas, em obediência ao princípio federativo, enquanto instrumentos

indispensáveis à cidadania”. Isto como bem afirma ele, é “essencial para que o controle externo brasileiro seja sistêmico, instrumentalizado, qualificado, contemporâneo, eficiente, útil à sociedade e guardião inarredável da moralidade na administração pública, combatendo diuturnamente a corrupção que ameaça o erário”.
O conselheiro anota que, nas 25 outras diretrizes são relacionadas ações, boas práticas e caminhos para a melhoria da gestão pública, com inclusão dos próprios tribunais de contas e a consolidação do sistema como instrumento da cidadania, tendo em vista reduzir as desigualdades em todas as suas manifestações institucionais, regionais ou pessoais.
Sebastião Helvecio lembra que os tribunais de contas no Brasil foram criados pelo Decreto n. 966-A, de 7 de novembro de 1890, com a competência de realizar exame, revisão e julgamento dos atos relacionados com a receita e despesa da República.
Importa salientar que o documento inicial situa de forma original o sistema Tribunais de Contas sem vinculação e subordinação hierárquica a nenhum dos três poderes do Estado constituído.
O conselheiro registra o cenário político da época dessa definição como tendo sido no início da Era Republicana, e, evidentemente, não se vislumbrava a complexidade da administração pública contemporânea.
Mas a intenção, aqui, é destacar dentre resultados positivos, a inovação da emissão do parecer prévio por parte do Tribunal de Contas no exame das contas anuais do presidente da República (Constituição de 1934) e a extinção de vários tribunais de contas estaduais durante a ditadura de Getúlio Vargas.
Em 1946, a Constituição destacou os tribunais de contas e projetou novas complexidades para a sua competência, mas a ditadura instaurada em 1964 minimizou a ação das cortes de contas mediante vários decretos e atos institucionais.
Mas ao final, a Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, resgata por inteiro a importância dos tribunais de contas, principalmente ao insculpir nos incisos do seu art. 71 as competências que balizam a atuação desses tribunais no fortalecimento da democracia, da república e da federação.
Nessa esteira, como diz o conselheiro, é importante realçar o reconhecimento explícito de que a eficiência é um princípio constitucional da administração pública ocorreu só em 1998, com a Emenda Constitucional n. 193, embora o princípio da eficiência já fosse tema recorrente entre administrativistas e ideólogos de políticas públicas.
O princípio da eficiência é autônomo, explicita ele, dotado de normatividade suficiente para vincular as atividades da
Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, Estados e Municípios; e mais,
na dicção de Batista Junior (2004, p. 130), “um verdadeiro dever de otimização das relações meio e fim e da
orientação para o bem comum”.
Aqui, é importante demonstrar, o princípio da eficiência não pode ter uma interpretação simplista, que
o reduza à mera ideia de economicidade. Ao contrário, o que se deseja do gestor público é qualidade do
gasto público, compromisso com resultados e consequentemente com a efetividade e a eficácia.
Eis o elo fundamental: é preciso que os gestores e os tribunais de contas trabalhem conjuntamente na missão de zelar pela boa aplicação dos recursos públicos. Para isso, as cortes de contas devem lançar mão de atividades de
inteligência para otimizar resultados. A inteligência é toda informação coletada, organizada ou analisada para atender as demandas de um tomador de decisões.
A substituição do velho pelo novo é inevitável. Faz-se necessário implantar um ideário novo nos tribunais de contas. O conselheiro informa que em seu livro “Die Theorie der Wirtschaft lichen Entwicklung”, de 1911, Schumpeter, destaca a ação fundamental do empreendedor, “aquele que é capaz de aproveitar as chances das mudanças tecnológicas e
introduzir processos inovadores”.
Mais tarde, já nos Estados Unidos, em sua obra Capitalismo, Socialismo e Democracia, Schumpeter elabora o conceito que o consagra mundialmente: “Destruição criativa”. Para o detalhamento dos períodos de “sístoles e diástoles” na história constitucional brasileira.
Modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências.
Ainda sobre Schumpeter, J. A. Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. Tradução de
Maria Sílvia Possas. São Paulo: Nova Cultural, 1997.
Trata-se da mais importante obra do autor. Critica o conceito de vontade popular e constata o poderio da elite dominante sobre a maioria desorganizada.
Nessa altura dos argumentos, o conselheiro lembra a revista TCEMG dos três primeiros meses de 2014, que destaca um ensaio de inovações dos empresários, como sendo a força motriz do crescimento econômico sustentado em longo prazo.
Vai um resumo do tema? “Há a substituição do velho pelo novo.” Em uma instituição, um novo setor atrai recursos orçamentários em desfavor de outro já estabelecido. No mundo mercantil, novas empresas absorvem negócios daqueles já estabelecidos e, de modo irreversível, novas tecnologias tornam descartáveis competências e equipamentos existentes que poucos dias atrás eram insuperáveis.
Sebastião Helvecio lembra que há apenas alguns anos, um bilhete aéreo era um talão cheio de folhas, cópias em papel carbono, guardado como a joia da viagem, pois, em caso de extravio, não era possível embarcar. Hoje é completamente diferente: o acesso é por meio eletrônico; a telefonia, a emissão de cheques, o ensino à distância, as redes sociais, as imagens para aperfeiçoar o diagnóstico médico.
Enfim, são tantas as novíssimas tecnologias que ocuparam o lugar de outras consagradas no nosso cotidiano.
Se permitem parafrasear Schumpeter, a instituição saudável rompe o equilíbrio por meio da inovação.
Uma visão sistematizada pode reconhecer cinco ondas schumpeterianas: 1ª onda (1785-1845): energia hidráulica,
têxteis, ferro; 2ª onda (1845-1900): vapor, estrada de ferro, aço; 3ª onda (1900-1950): eletricidade, química,
motor de combustão interna; 4ª onda (1950-1990): petroquímica, eletrônica, aeronáutica; 5ª onda (1990-
dias atuais): redes digitais, software e novas mídias.
No entanto, há resistências à implementação de novas tecnologias e transformações institucionais. Segundo o conselheiro, uma digressão histórica nos leva ao ludismo ou movimento ludista, em que a figura de Ned Ludd simboliza a destruição de máquinas que poderiam concorrer com postos de trabalho na Inglaterra.
John Kay, inventor da “lançadeira voadora”, uma das primeiras inovações na mecanização da tecelagem, teve a casa incendiada por ludistas em 1753. Onze anos após, James Hargreaves, o inventor da máquina de fiar hidráulica, teve o mesmo tratamento. Hodiernamente adotamos o ludismo como sinônimo de resistência à mudança tecnológica.
Acemoglu e Robinson (2012), em sua obra decorrente da conferência realizada no Institute for Quantitative
Social Science, em fevereiro de 2010, em Harvard, indaga por que as nações fracassam (Why the Nations Fail),
defendem o conceito de instituições extrativistas e instituições inclusivas. Estas – que asseguram os direitos
de propriedade, criam condições igualitárias para todos e incentivam os investimentos em novas tecnologias
e competências – têm maiores chances de conduzir ao crescimento econômico do que as extrativistas, que
são estruturadas de modo que poucos possam extrair recursos de muitos.
A capacidade que têm aqueles que dominam as instituições extrativistas de beneficiar-se imensamente, em detrimento do resto da sociedade, implica que o poder político, sob instituições extrativistas, é um bem cobiçado, o que leva inúmeros grupos e indivíduos a disputá-lo. Concluem, ainda, os autores, “o pluralismo, pedra angular das instituições políticas inclusivas, requer que o poder político tenha ampla distribuição pela sociedade”.
Nessa esteira, os tribunais de contas do Brasil, ao optarem pela parceria com outras instituições de controle
e principalmente pela aproximação com jurisdicionados e entidades da sociedade civil, contribuem
efetivamente no empoderamento do cidadão, pilar essencial para que o controle social seja mais efetivo.
Sebastião Helvecio chama atenção para outro autor, da costa oeste dos Estados Unidos, Angus Deaton (2013), da Universidade de Princeton, em seu recente livro “The great escape: health, wealth and the origins of inequality”, ao analisar os programas de ajuda externa a países em desenvolvimento, conclui pela ineficácia da maioria dos programas implementados e faz uma crítica ao chamado “modelo hidráulico”, que embasa o fundamento de que a simples injeção de recursos promove melhorias nos resultados de políticas públicas.
Por outro lado, a “Teoria da Modernização”,
de Seymour Martin Lipset – o que, em síntese, propõe que as sociedades, ao crescerem, encaminham-se para sociedades mais modernas, desenvolvidas, civilizadas e democráticas e que as instituições inclusivas brotaram como subproduto – revela-se inconsistente. Um bom exemplo é a Argentina, que, apesar de ser
um dos países mais ricos no início do século XIX, não exercitando pluralismo e democracia, não floresceu
com instituições inclusivas.
As fórmulas impostas por organismos internacionais, desde a formulação do Consenso de Washington
até as tradicionais receitas do Fundo Monetário Internacional, amparadas na ideia fulcral de que o
desenvolvimento incompleto é feito de instituições e políticas de má qualidade, também se mostraram
infrutíferas. A lista mágica “do que fazer” – com o quinteto favorito: estabilidade macroeconômica, metas
macroeconômicas, redução do Estado, câmbio flexível e liberalização das contas de capital – também se
revelou frustrante.
No Brasil, conta o conselheiro, a caminhada para a redemocratização com centralismo e pluralismo é longa e tortuosa. A década de 1970, com o crescimento econômico, estimula a possibilidade de ganhos salariais. As greves, proibidas desde 1964, são questionadas em 12 de maio de 1978 com a pioneira greve da fábrica de caminhões da Scania em São Bernardo do Campo. É o ressurgimento do movimento trabalhista brasileiro para o enfrentamento do regime autoritário.
O passo seguinte é a mobilização de inúmeros setores da sociedade civil para a aprovação da eleição direta para
presidente da República, que se inicia de maneira discreta em 31 de março de 1983, no recém-emancipado município pernambucano de Abreu e Lima. Na sua cidade natal, Juiz de Fora, o conselheiro confessa que teve o privilégio de ser orador, ao lado de importantes líderes, em um comício com mais de 30 mil participantes, no dia 29 de
fevereiro de 1984.
Seguem-se manifestações por todo o Brasil, como os comícios do Rio de Janeiro em 10 de abril de 1984 (1 milhão de presentes) e de São Paulo em 16 de abril (1,5 milhão de participantes).
A proposta de emenda constitucional n. 5, de autoria do deputado federal Dante de Oliveira, com assinaturas
de 170 deputados e 23 senadores, é protocolizada em 2 de março de 1983. Votada em 25 de abril de 1984,
em meio à comoção nacional, obtém 298 votos a favor e 65 contra (3 abstenções), mas ainda assim não é
suficiente para sua aprovação.
Os principais frutos foram a vitória de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral e a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Daí resultaram a Constituição Federal de 1988 e a realização das eleições diretas para presidência da República em 1989.
O conselheiro observa ter detalhado um pouco mais essa passagem para que o leitor ter “uma noção clara do legado democrático que recebemos e, concordando com Acemoglu e Robinson (2012, p. 353), ele ressalto que: “A ascensão brasileira, desde a década de 1970, não foi arquitetada por economistas de instituições
internacionais que instruíram as autoridades brasileiras com relação à melhor maneira de criar políticas ou evitar a falência dos mercados. Também não foi resultado natural da modernização. Foi consequência da construção corajosa de instituições inclusivas por diversos grupos, que acabariam produzindo instituições econômicas inclusivas.
Pode-se deduzir que a partir da Constituição de 1988, o prestígio dos tribunais de contas, tornou-se uma
vontade da sociedade brasileira. A atividade de
controle externo é princípio constitucional, e zelar pelo seu fiel exercício é compromisso dos que exercem
essa missão grande nobreza.
*Texto compilado pelo jornalista e escritor Alberto Sena autor do livro “Darcy Ribeiro do Fazimento”, que pode ser enviado pelos correios – albertosenabatista@gmail.com