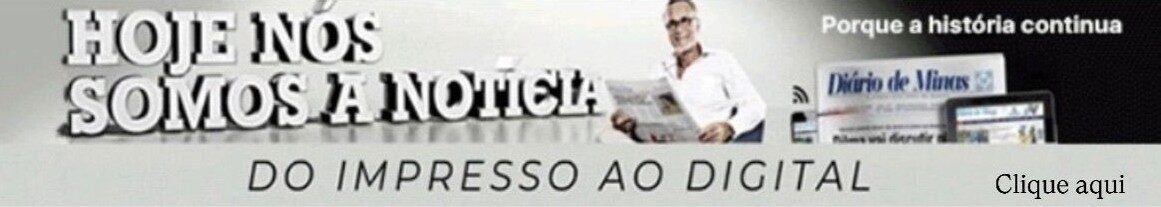Nova era em combustíveis sustentáveis - créditos: divulgação
02-11-2025 às 09h40
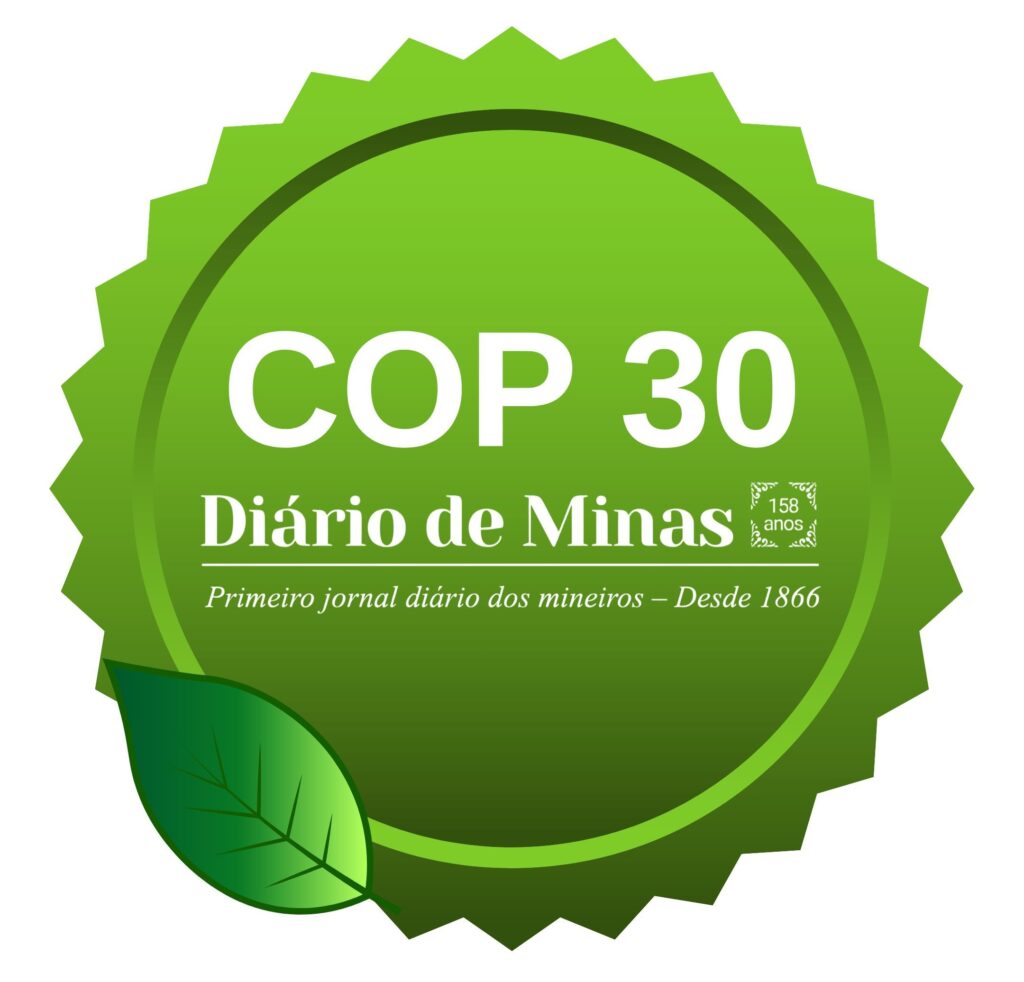
Sebastião Carlos Martins (*)
Excelentíssimos(as) Senhores(as),
Produção descentralizada de Combustível Sustentável de Aviação (SAF) a partir de resíduos sólidos urbanos (RSU) e biomassa — recomendação estratégica para segurança energética da aviação civil, descarbonização e gestão de resíduos estaduais
1. Contexto imediato: o alerta do setor aéreo
As companhias aéreas brasileiras manifestam crescente preocupação com a falta de Combustível Sustentável de Aviação (SAF) disponível no país em escala comercial. Essa escassez ameaça o cumprimento das metas de descarbonização do setor aeronáutico e cria risco de aumento relevante no custo das passagens aéreas, à medida que o uso de SAF se torne mandatário nos próximos anos sob políticas de descarbonização da aviação, como o Combustível do Futuro, programas de mercado de carbono e compromissos de corte de emissões assumidos junto a autoridades regulatórias e organismos internacionais. (CNN Brasil)
Esse cenário de oferta insuficiente de SAF não é apenas um problema ambiental; é um risco econômico e logístico direto para os Estados:
• risco de encarecimento do transporte aéreo regional e nacional, prejudicando integração territorial e turismo;
• risco de perda de competitividade de hubs aeroportuários locais frente a polos internacionais que consigam garantir SAF estável e competitivo;
• risco reputacional, já que o Brasil assumiu compromissos de transição energética e descarbonização do setor de aviação alinhados a acordos internacionais e marcos como a Lei 14.993/2024 (“Combustível do Futuro”), que já estrutura exigências de redução de emissões no querosene de aviação.
Em paralelo, estudos técnicos recentes no contexto brasileiro mostram que o SAF é um vetor central de descarbonização da aviação, com potencial de redução de emissões de gases de efeito estufa da ordem de até 80% ao longo do ciclo de vida, desde que sua rota produtiva seja baseada em matérias-primas de baixo carbono e que haja políticas de incentivo fiscal, crédito climático e garantias contratuais de demanda. Esses mesmos estudos alertam que, no Brasil, o grande gargalo para viabilizar economicamente o SAF não é falta de mercado — é custo de produção e disponibilidade estável de matéria-prima. (arXiv)
Dito de outra forma: o problema estratégico não é “se haverá demanda por SAF”, e sim “quem vai produzir e onde”.
2. Tese central deste parecer
A resposta mais eficiente — técnica, econômica, ambiental e social — é que cada Estado lidere a implantação de Unidades de Recuperação de Energia (URE) próximas aos seus principais aeroportos para produzir SAF, óleo combustível e coprodutos industriais a partir de:
• resíduos sólidos urbanos (RSU),
• resíduos industriais e/ou agrícolas de difícil destinação,
• biomassas residuais regionais (incluindo frações orgânicas de baixo valor energético e sem competição com alimentos).
Essa arquitetura de produção regional, distribuída e integrada à política de resíduos urbanos é tecnicamente viável, financeiramente atrativa, e atende simultaneamente quatro agendas prioritárias de governo estadual:
a) política ambiental (gestão de resíduos, prolongamento da vida útil dos aterros e redução de emissões de metano);
b) política climática (descarbonização e créditos de carbono);
c) política industrial e de desenvolvimento regional (cadeia produtiva local de combustível limpo de alto valor agregado);
d) política de transporte e competitividade logística (garantia de suprimento de SAF aos aeroportos, reduzindo risco de encarecimento de voos).
Esse modelo descentralizado é parte do estudo técnico conduzido pelo Engenheiro Sebastião Carlos Martins e pela DBEST PLAN – Eng. e Tecnologia da Informação, que estrutura a viabilidade econômico-financeira da produção de SAF a partir de RSU e biomassa para plantas de aproximadamente 500 toneladas/dia de resíduos.
3. Por que produzir SAF regionalmente junto aos aeroportos
3.1 Redução imediata de custo logístico
Produzir SAF a algumas dezenas de quilômetros (ou menos) dos grandes aeroportos estaduais corta drasticamente:
• o custo de transporte de combustível em longa distância;
• as emissões associadas ao transporte rodoviário do combustível;
• a dependência de refino centralizado em poucos polos industriais distantes.
Esse desenho reduz a pegada de carbono total do combustível entregue à aviação e melhora a previsibilidade de abastecimento — um ponto crítico citado pelas empresas aéreas quando afirmam preocupação com disponibilidade de SAF no curto e médio prazo. (CNN Brasil)
3.2 Destinação ambientalmente correta dos resíduos urbanos
Cada capital e cada região metropolitana do país enfrenta pressão crescente sobre seus aterros sanitários e passivos ambientais. O envio do RSU para uma URE com gaseificação/pirólise, seguido de síntese química (ex.: rota Fischer-Tropsch), transforma um passivo urbano — lixo — em ativo energético de alto valor agregado (SAF). Isso:
• reduz volume destinado a aterro,
• estende a vida útil dos aterros existentes,
• reduz emissões de metano e chorume,
• melhora indicadores de saúde pública urbana, especialmente em áreas de alta vulnerabilidade socioambiental.
Observação importante: o estudo considera inclusive a possibilidade de a URE pagar um valor por tonelada recebida de RSU (por exemplo, R$ 30,00/t), em vez de cobrar “taxa de destinação” das prefeituras. Isso viabiliza arranjos consorciados intermunicipais e dá segurança de suprimento contínuo de resíduos para manter a produtividade industrial.
Isso significa que o Estado pode organizar a política de resíduos como insumo industrial de um combustível estratégico de aviação, e não como custo de aterro.
3.2.1 Responsabilidade legal dos municípios na gestão dos resíduos
De acordo com a Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), e o Novo Marco do Saneamento (Lei nº 14.026/2020), os municípios brasileiros são legalmente responsáveis pela destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados em seus territórios. Essa obrigação inclui o encerramento de lixões, a implantação de sistemas de coleta seletiva, reciclagem e tratamento, bem como a destinação final ambientalmente correta dos rejeitos.
A Lei nº 14.026/2020 reforça esse dever ao condicionar o acesso a recursos federais e financiamentos públicos à comprovação de que o município possui plano de saneamento básico e de gestão integrada de resíduos sólidos atualizado e em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Assim, os prefeitos municipais têm responsabilidade direta e pessoal pela destinação legal dos resíduos, podendo responder administrativa e judicialmente em casos de descumprimento.
Nesse contexto, a implantação de Unidades de Recuperação de Energia (URE) com aproveitamento do RSU — como as propostas neste estudo — representa não apenas uma solução tecnológica de valor econômico, mas também um instrumento de cumprimento da legislação federal, permitindo aos municípios e consórcios intermunicipais atender às exigências legais e às metas de erradicação dos lixões, com ganhos ambientais e econômicos significativos.
3.3 Geração de empregos locais qualificados e nova base industrial verde
A instalação de uma URE cria:
• empregos diretos industriais (processamento térmico, controle de processo, manutenção, operação química de conversão em combustível aéreo),
• empregos indiretos (logística de coleta e triagem de resíduos, serviços de engenharia, instrumentação, automação),
• empregos induzidos (cadeias de fornecimento, segurança, serviços gerais).
Ou seja, não é apenas política ambiental — é política de desenvolvimento produtivo verde, aderente às diretrizes nacionais de transformar a agenda climática em motor de emprego e renda, hoje formalizadas em políticas federais de transição energética e transformação ecológica. (Wikipédia)
3.4 Redução de emissões da aviação civil
O setor de aviação é pressionado globalmente a reduzir emissões por passageiro e por quilômetro voado. SAF é hoje a ferramenta mais imediata e tecnicamente compatível com a frota existente, pois pode substituir, em mistura, parte do querosene fóssil sem exigir mudanças profundas de infraestrutura aeroportuária nem de motores. Isso coloca o Estado que domina a produção local de SAF como referência em “hub de aviação verde”, com potencial de atrair mais rotas, mais operações cargueiras e mais manutenção aeronáutica orientada a ESG. (arXiv)
4. Viabilidade econômico-financeira já demonstrada com base técnica
O estudo conduzido pela DBEST PLAN modela uma URE de ~500 toneladas/dia de RSU, com CAPEX de referência da ordem de R$ 1,0 bilhão e produtividade média de 140 litros de SAF por tonelada de resíduo processado. A análise considera:
• SAF vendido a aproximadamente R$ 9,00/litro,
• óleo combustível/bunker como subproduto (~R$ 4,50/litro),
• créditos de carbono (da ordem de R$ 90,00/toneladas CO₂ equivalente),
• financiamento internacional da ordem de 3% a.a.,
• isenções ou reduções de ICMS, PIS, COFINS e ISS próximo de 2%.
Resultados macro (cenário base):
• TIR anual: da ordem de 21,6%;
• VPL: da ordem de R$ 5,6 bilhões em 20 anos;
• Payback: da ordem de 7,2 anos, já incluindo o período de construção;
• ROI operacional: da ordem de 15% a.a., valor considerado atrativo por fundos internacionais de infraestrutura verde.
Mesmo em cenários conservadores — queda de produtividade do SAF para 110 L/toneladas e queda de preço de venda do SAF para ~R$ 8,00/L — o projeto ainda apresenta TIR anual próxima ou acima de 17%, que é típica Taxa Mínima de Atratividade exigida por financiadores para projetos sustentáveis de infraestrutura.
Em cenários de produtividade mais alta (~150 L/ton) e preço mais favorável (aumento de 20%), a TIR projetada supera 25%, com payback reduzido para algo em torno de 6 anos.
Tradução política para o governador:
• Trata-se de um ativo industrial verde que se paga em horizonte típico de infraestrutura energética (6 a 8 anos).
• Gera combustível estratégico para aviação estadual.
• Resolve um passivo ambiental que hoje onera os municípios.
• E se sustenta economicamente desde que haja desenho tributário adequado.
5. A peça crítica de credibilidade para investidores: Simulação de Monte Carlo. Projetos desse tipo ainda sofrem com dois fatores de incerteza que afastam capital privado em estágio inicial:
a) incerteza no CAPEX real de implantação (o quanto essa planta custa “de verdade” no Brasil, na fase de engenharia de detalhe e montagem industrial);
b) incerteza operacional no OPEX e na produtividade (quantos litros de SAF por tonelada de RSU brasileiro, que tem poder calorífico inferior ao de países desenvolvidos).
Para lidar com esse risco, o estudo da DBEST PLAN utiliza Simulação de Monte Carlo (software Crystal Ball, Oracle) para modelar a distribuição de probabilidade da TIR (Taxa Interna de Retorno) a partir da variabilidade das principais variáveis (CAPEX, produtividade, preço de venda do SAF, preço do óleo bruto etc.).
Os resultados são claros:
• probabilidade da ordem de 81,6% de a TIR anual ficar entre 17% e 26,7%;
• TIR média ajustada após refinamento das premissas da ordem de 23,3%;
• dispersão moderada, típica de projetos industriais complexos, mas que permanece majoritariamente acima da Taxa Mínima de Atratividade de 17% ao ano.
Isso significa que, mesmo admitindo incertezas de engenharia e operação, o retorno esperado permanece atrativo para financiadores nacionais e, especialmente, internacionais — inclusive aqueles já alinhados a fundos climáticos e programas de transição energética que enxergam SAF como prioridade por seu efeito direto na redução de emissões do setor aéreo.
Essa abordagem probabilística é essencial para governos estaduais por três motivos:
• Dá base objetiva para negociar financiamento climático internacional a juros baixos (da ordem de 3% a.a.) em vez de crédito doméstico caro (da ordem de 14% a.a.).
• Reduz o risco político do governador ao defender o projeto publicamente, pois demonstra que a TIR prevista não depende de cenário único “otimista”, e sim de uma análise de risco transparente e auditável.
• Oferece insumo técnico robusto para pleitear enquadramento em programas federais de transição energética, PAC verde e fundos climáticos estaduais, que hoje já começam a ser organizados como instrumentos de política pública regional de baixo carbono. (Wikipédia)
Em resumo: a Simulação de Monte Carlo não é um detalhe acadêmico; ela é a linguagem que destrava capital em escala bilionária para a planta estadual de SAF.
6. Requisitos de política pública estadual
Para transformar essa oportunidade em projeto executivo concreto, recomendamos que cada Estado trate os seguintes eixos como agenda imediata de governo:
6.1 Definição de polo(s) de produção de SAF
• Selecionar aeroportos estratégicos estaduais (ex.: capital + principal aeroporto regional de conexão).
• Identificar área industrial próxima (zona logística / distrito industrial / área de aterro sanitário) com acesso a infraestrutura de energia, água industrial e rodovias.
• Mapear volume diário de RSU disponível em raio de 50 a 100 km, somando municípios consorciados, resíduos industriais não perigosos e biomassa residual agrícola de baixo valor comercial. Isso assegura o suprimento mínimo contínuo da planta (500 t/dia).
6.2 Política de resíduos como política energética
• Estruturar consórcios intermunicipais formalizados para garantir fornecimento estável de RSU à URE, com contratos de longo prazo.
• Prever economicamente que o Estado (ou um consórcio) pode até remunerar a destinação do RSU para a URE (por volta de R$ 30,00/t, conforme o estudo), usando isso como forma de reduzir pressão sobre aterros e mitigar passivos ambientais municipais.
• Associar esse arranjo a metas estaduais de redução de envio de resíduos a aterro e redução de emissões de metano.
6.3 Regime tributário e incentivos
• Avaliar isenção/redução de ICMS sobre o SAF, óleo combustível Co processo e energia excedente gerada, bem como PIS/COFINS e ISS reduzido a patamares próximos de 2%. Esses incentivos são determinantes para manter a TIR em níveis que atraiam capital privado e fundos internacionais. Sem isso, a atratividade econômica cai e o investidor privado perde apetite.
• Tratar tais incentivos não como renúncia sem retorno, mas como política ativa de viabilidade de um polo industrial verde que resolve RSU, gera emprego qualificado e protege a malha aérea estadual contra volatilidade de preços de combustível fóssil.
6.4 Estrutura financeira e captação internacional
• Priorizar linhas de financiamento verde/climático internacionais a custo da ordem de 3% a.a., que elevam a TIR final do projeto em comparação às condições típicas nacionais.
• Utilizar o estudo com Simulação de Monte Carlo como peça técnica em roadshows com bancos multilaterais, fundos climáticos, e investidores de infraestrutura sustentável.
• Avaliar enquadramento no Plano de Transformação Ecológica, nos fundos climáticos estaduais e nas estratégias de captação verde já em curso em unidades federativas que buscam investimentos associados a transição energética e descarbonização (por exemplo, projetos estaduais de hidrogênio verde e energias renováveis vêm sendo apresentados como vitrines de política climática regional). (Wikipédia)
6.5 Garantia de demanda / contrato-âncora
a) Negociar com companhias aéreas e operadores aeroportuários contratos de fornecimento de SAF com horizonte plurianual, mesmo com mistura parcial ao querosene fóssil. Isso reduz o risco de receita e dá previsibilidade de fluxo de caixa — ponto crítico para financiadores. (CNN Brasil)
b) A mesma estrutura pode incluir compromissos de uso de SAF em operações cargueiras estratégicas (exportação agroindustrial, polos industriais de alto valor agregado, turismo internacional), vinculando imagem do aeroporto e do Estado à descarbonização.
6.6 Encaminhamento propositivo
Diante da preocupação já manifestada pelo setor aéreo quanto ao risco de insuficiência de SAF em território nacional — risco este que pode pressionar custos e tarifas aéreas, afetando competitividade regional e mobilidade da população —, recomendamos formalmente:
a) Que cada Governo Estadual institua, por decreto ou resolução conjunta Secretaria de Meio Ambiente / Secretaria de Desenvolvimento Econômico / Secretaria de Infraestrutura, um Grupo de Trabalho Executivo do SAF Regional (GT-SAF);
b) Que este GT-SAF tenha as seguintes entregas iniciais:
• Mapeamento de RSU e biomassas residuais disponíveis em escala mínima de 500 toneladas/dia dentro do raio logístico de cada grande aeroporto do Estado;
• Identificação de área industrial para implantação de uma URE com rota termoquímica (gaseificação/pirólise + síntese tipo Fischer-Tropsch) para produção de SAF;
• Estudo tributário preliminar para isenção/redução de ICMS, PIS, COFINS e ISS em linha com o modelo de referência da DBEST PLAN;
• Estruturação de proposta de contrato-âncora com as companhias aéreas que operam no(s) aeroporto(s) selecionado(s);
• Preparação de dossiê financeiro com Simulação de Monte Carlo da TIR para apresentação a fundos internacionais de financiamento climático.
6.7) Que, na sequência, o Estado submeta esse dossiê para enquadramento em programas federais de transição energética e em fundos climáticos internacionais, amarrando desde já a narrativa de que:
• o Estado está reduzindo emissões no transporte aéreo,
• está resolvendo a destinação final de RSU com tecnologia limpa,
• está criando indústria verde e empregos qualificados,
• e está protegendo sua malha aérea contrachoques futuros de custo de combustível fóssil. (arXiv)
7. Conclusão
A falta de SAF é, hoje, um gargalo estratégico que preocupa diretamente as companhias aéreas brasileiras e pode pressionar tarifas aéreas nos próximos anos. (CNN Brasil)
Os Estados têm, nas mãos, uma solução que simultaneamente:
• resolve passivos ambientais urbanos (RSU e resíduos orgânicos/industriais),
• cria polos industriais verdes de alto valor agregado no território estadual,
• gera empregos e captura investimentos internacionais de baixo custo,
• reduz emissões líquidas da aviação civil com impacto direto na competitividade econômica de seus aeroportos,
• mantém a aviação conectada aos compromissos de descarbonização nacional e internacional.
O estudo técnico-financeiro da DBEST PLAN, conduzido pelo Eng. Sebastião Carlos Martins, demonstra que essa solução é economicamente viável com TIR anual acima da Taxa Mínima de Atratividade (da ordem de 17% a.a.) e payback competitivo (6 a 8 anos), desde que estruturada com incentivos tributários estaduais/municipais e financiada com linhas internacionais de baixo custo.
Mais importante: a adoção obrigatória da Simulação de Monte Carlo como instrumento de avaliação de risco não é um detalhe técnico opcional — é a ferramenta essencial para dar transparência ao risco de CAPEX e OPEX, e para demonstrar a financiadores e órgãos de controle que o projeto suporta variações de produtividade e preço do SAF mantendo retorno atrativo.
Recomendação final aos governadores e aos prefeitos:
a) Instituam imediatamente GT-SAF Estadual para estruturar um polo de produção de SAF junto ao(s) principal(is) aeroporto(s) do Estado, com base em RSU e biomassas residuais locais.
b) Orientem o GT-SAF a trabalhar com a modelagem econômico-financeira probabilística (Simulação de Monte Carlo) e com a política de incentivos tributários proposta neste parecer.
c) Encaminhem o dossiê resultante aos fóruns federais de transição energética, a fundos climáticos internacionais e às companhias aéreas que operam no Estado.
A DBEST PLAN – Eng. e Tecnologia da Informação, empresa especializada em estudos de viabilidade econômico-financeira de projetos de energia limpa utilizando Simulação de Monte Carlo para análise de risco de TIR, CAPEX, OPEX e produtividade, declara-se apta a colaborar tecnicamente com cada Governo Estadual na estruturação desses estudos, inclusive na preparação dos dossiês de viabilidade e dos cenários probabilísticos exigidos por investidores e financiadores internacionais.
(*) Sebastião Carlos Martins é engenheiro