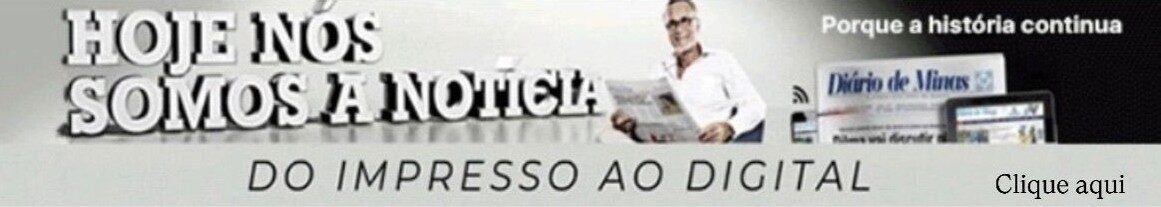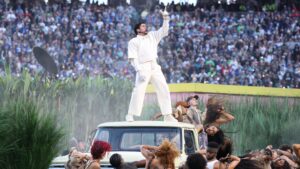COP30 e suas diversas narrativas - créditos: divulgação

15-11-2025 às 13h26
Marcelo Castro*
Entre a retórica do apocalipse e a realidade dos territórios, a COP 30 revela que o maior desafio não é o clima — é a coerência das narrativas que disputam a consciência global.
Um elemento central: os povos indígenas e as comunidades tradicionais da Amazônia. Um evento importante: qualquer encontro que chame a atenção do mundo. Um tema relevante: o fim do mundo, o apocalipse, ou uma ameaça que ainda pode ser controlada.
Esses são os ingredientes fundamentais de uma narrativa contemporânea — suposições complexas, de difícil aferição em curto prazo, que atravessam gerações e alimentam a indústria das incertezas. Há várias vulnerabilidades nesse processo: negócios financeiros baseados em especulações, novos produtos “verdes” voltados à mitigação, exploração de imagens e uma crescente instabilidade entre países que dependem da segurança jurídica do mercado global. Uma simples maré de desconfiança pode gerar fuga de capitais.
As chamadas chantagens climáticas tornaram-se uma forma de extorsão intelectual e econômica. Os reféns, amarrados há décadas por ideias estruturadas, veem-se paralisados a cada movimento no tabuleiro geopolítico. No entanto, há uma preocupação ambiental legítima, que pode e deve ser tratada — e que já vem sendo enfrentada pela própria necessidade da geografia humana.
As ocupações rurais no Brasil evoluíram em sintonia com décadas de debates, como demonstrou a revisão do Código Florestal Brasileiro de 2012. A expansão da produção de soja, que inundou o mercado mundial, reduziu a dependência da gordura animal. O aumento da oferta de carne bovina retirou milhões de pessoas da fome extrema, transformando antigos caçadores em produtores e profissionais com novas habilidades. O meio ambiente se reajusta continuamente, movido pela necessidade e pela oportunidade de oferecer comida acessível, preservando a terra como o maior patrimônio do produtor rural.
Do outro lado da história, está o tecido urbano: mais de 4 bilhões de pessoas vivem hoje em cidades — cerca de 55% da população global, que já ultrapassa 8,2 bilhões em 2024. Nos últimos 100 anos, a migração do campo foi intensa, mas as políticas públicas não acompanharam o mesmo ritmo. O resultado foi a formação de favelas, ocupações irregulares em encostas e áreas de preservação.
As novas tecnologias trouxeram empregos e renda, mas também novos desafios: transporte, habitação, abastecimento de água e saneamento básico tornaram-se responsabilidades do poder público, que não arrecadava o suficiente para acompanhar a demanda. Na virada do século, com o avanço das exportações, o PIB brasileiro reagiu. O impulso veio do agronegócio, que modernizou o campo, melhorou as condições de trabalho e ampliou a infraestrutura rural — não por imposição estatal, mas pela necessidade natural da própria atividade.
Em contrapartida, setores urbanos ligados à tecnologia e à mobilidade, como os fabricantes de motocicletas e eletrodomésticos, exploraram as oportunidades sem compartilhar os ônus sociais. Não financiam hospitais para atender vítimas de acidentes, não têm programas de responsabilidade social e não destinam corretamente os produtos ao fim de sua vida útil.
As instituições que captam recursos da exploração ambiental raramente aparecem nesse debate, porque o problema é local, pontual — e não rende manchetes globais como uma foto da floresta em chamas. Milhões de carros, milhares de lâmpadas e os submundos das periferias não têm valor simbólico para a retórica da extorsão ambiental.
A dinâmica da vida é, em essência, uma ciranda de desafios e ameaças — como em toda biota. Mas, nos últimos anos, os reféns ambientais parecem estar com a faca no pescoço. Será que assistiremos a um apagão mental coletivo, um “reset” onde a ordem jurídica retome o controle e unifique o mundo em torno da razão? Talvez até a utopia tenha um teto. Talvez todos já desconfiem. O que resta agora é compreender até onde desceremos antes de estabilizar — e descobrir a verdade sobre este grande condomínio chamado Planeta Terra.
Espero que, um dia, nossos netos e bisnetos sintam vergonha não dos erros humanos, mas da ignorância travestida de virtude. Na visão do observador, a vida se transforma continuamente: não desaparece, apenas muda de forma.
Como disse o químico francês Antoine-Laurent de Lavoisier, por volta de 1775:
“Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.”
*Marcelo de Castro Souza, é técnico em Meio Ambiente, trabalha com mudanças de categoria de Unidade de Conservação na região da BR 163.