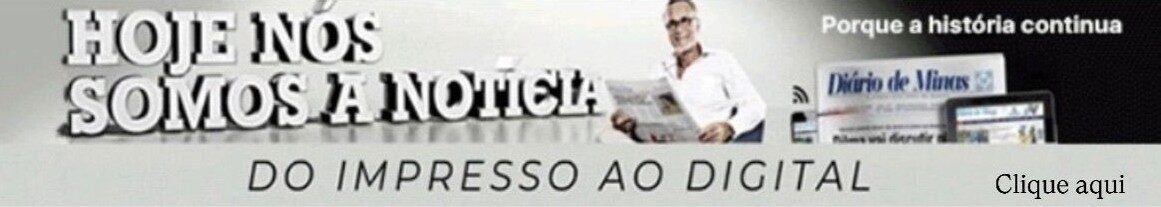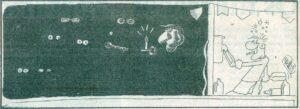Brasil e Portugal e o acordo ortográfico _ créditos: "Educação Pública" - Wasley de Jesus Santos
22-05-2025 às 08h48
Mariana Grilli Belinotte(*)
O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa foi aprovado em 1990. Seu objetivo era unificar a escrita do português entre os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) para fins editoriais e didáticos — a unificação facilitaria, por exemplo, a adoção do português como um idioma de trabalho na ONU. No entanto, o acordo também representou mais um capítulo na disputa entre Portugal e Brasil pelo domínio simbólico do idioma. Aliás, tamanha foi a predominância desses dois países que chegou a gerar insatisfação em outras nações lusófonas, que entenderam ter pouca ou nenhuma influência nas decisões.
A relação com o idioma varia de Estado para Estado, sendo especialmente complexa em ex-colônias. Mesmo nesse contexto, a relação entre Brasil, Portugal e o português é única, e o protagonismo obtido pelo Brasil nas negociações do acordo ortográfico é mais um sinal disso.
No Brasil, o português se tornou a língua nacional de todas as camadas da população, um fenômeno relativamente raro em ex-colônias/ Nesses locais, muitas vezes o idioma do colonizador convive com línguas locais, permanecendo restrito a elites ou sendo utilizado para atividades institucionais, como na administração pública e no ensino formal. A adoção generalizada do português — ainda que marcada por processos violentos de apagamento de línguas indígenas e africanas — fez do português brasileiro um símbolo de unidade nacional, uma característica do povo, e um motivo de orgulho. Em muitos casos, isso se manifesta até como uma percepção de que o Brasil teria desenvolvido uma versão “melhorada” do idioma original.
Com mais de 200 milhões de falantes e uma produção editorial, midiática e literária significativa, o Brasil se vê — e é visto — como o novo polo irradiador da língua portuguesa. Um movimento que, inevitavelmente, confronta a autoridade simbólica de Portugal como “berço da língua”. Nenhum país hispânico representa um desafio semelhante à Espanha: na comunidade hispanofalante, não há um único Estado a importância populacional, econômico e cultural relativas que o Brasil possui dentro da lusofonia. Isso cria uma tensão entre a antiga metrópole e sua ex-colônia mais influente.
Um fator fundamental para explicar essa relação singular com a língua portuguesa é um evento igualmente singular da nossa história: a vinda da corte portuguesa para o Brasil, em 1808. Esse episódio transformou o Rio de Janeiro na sede do império português e estabeleceu no Brasil instituições centrais como a Imprensa Régia, o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, o Arquivo Público, a Biblioteca Nacional e a Academia Real Militar. Ou seja, o Brasil recebeu a estrutura de uma capital imperial ainda durante o período colonial — e, mais importante, passou a se ver como sucessor legítimo de Portugal.
A isso se soma a independência declarada por Dom Pedro I, herdeiro da casa real portuguesa, que escolheu permanecer e tornar-se imperador do Brasil. O gesto foi lido, à época e até hoje, como uma afirmação de que o Novo Mundo tropical era digno de ser centro de um império — e não apenas uma periferia da Europa. Esse imaginário fortaleceu o sentimento de identidade nacional, e também uma sensação de superioridade cultural frente à metrópole, visível até hoje em piadas de português e em certo orgulho linguístico.
Essas estruturas, junto à atitude de autonomia em relação a Portugal, permitiram que o Brasil desenvolvesse rapidamente uma imprensa e uma literatura próprias. Esses dois elementos foram essenciais para institucionalizar as diferenças entre o português falado aqui e aquele falado em Portugal. A criação da Academia Brasileira de Letras (ABL) em 1897, a adoção de acordos ortográficos nacionais e a consolidação de um mercado editorial robusto permitiram que se estabelecesse, no Brasil, uma norma culta brasileira distinta, com vocabulário, pronúncia e até gramática próprias. Assim, as distinções deixaram de ser “erros” ou desvios, e passaram a constituir a nova variação.
Foi importante que esse movimento de independência e autonomia tenha coincidido em parte com a ascensão do modernismo e sua boa aceitação pelas elites culturais locais. O modernismo foi ao mesmo tempo uma forma de expressão vista como mais autêntica, e também um instrumento na construção de um conceito de brasilidade. Autores como Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira inovaram no conteúdo das obras, mas também transformaram a linguagem, explorando oralidade, regionalismos e estruturas populares, o que ajudou a legitimar uma língua portuguesa “feita no Brasil”.
Assim, o Brasil não se sente como um usuário de um idioma estrangeiro. Sente-se, na verdade, como o dono de direito da língua que ajudou a transformar e a expandir. E isso tem consequências concretas — como na condução e implementação do Acordo Ortográfico.
Em Portugal, com a entrada em vigor do Acordo Ortográfico, as mudanças exigiram maior alinhamento com a norma já praticada no Brasil. A principal delas foi a eliminação das consoantes mudas em palavras como acção, óptimo e baptismo, que passaram a ser grafadas como já se escrevia no Brasil. As consoantes, apesar de não pronunciadas, tinham certo valor para os portugueses, e a mudança gerou resistências por parte de estudiosos e da população portuguesa. O Acordo foi percebido por muitos em Portugal como uma “abrasileirização” da língua escrita, e não apenas um processo de modernização.
Mas o Brasil também teve que fazer concessões para que o Acordo fosse aceito: o trema (ü), e o acento agudo em palavras como “ideia” e “heroico”, que nunca foram tão disseminados em Portugal, ou já haviam sido abandonados, foram retirados pelo acordo. No entanto, no caso brasileiro, a acentuação cumpria um papel relevante, de indicar como a palavra deveria ser pronunciada. Essa é uma função importante da acentuação, e essas mudanças parecem ter sido feitas mais para demonstrar aos portugueses que os brasileiros também “perdiam” algo no acordo, do que para tornar a língua mais funcional ou acessível aos seus usuários.
O Brasil talvez tenha sido infeliz ao fazer essas concessões. Afinal, o que justificaria um Estado com 10 milhões de falantes influenciar outro com população vinte vezes maior? Ao mesmo tempo, o Acordo não foi capaz de envolver os países do PALOP e o Timor-Leste, fazendo com que esses países demorassem a ratificar e a adotar as novas diretrizes. Talvez uma saída melhor fosse buscar as alterações que mais acrescentassem dinamicidade e didatismo ao português. Se essas mudanças tendem mais ao português brasileiro do que ao europeu… paciência.
O Brasil talvez tenha sido infeliz ao fazer certas concessões no Acordo Ortográfico. Afinal, qual seria a justificativa para um país com cerca de 10 milhões de falantes influenciar decisivamente outro com uma população vinte vezes maior? Além disso, o Acordo não conseguiu engajar efetivamente os países do PALOP e Timor-Leste, o que atrasou a ratificação e a implementação das novas regras nesses territórios. Talvez uma abordagem mais eficaz tivesse sido priorizar mudanças que realmente tornassem o português mais dinâmico e didático, mesmo que isso significasse aproximar-se mais da norma brasileira do que da europeia — e, nesse caso, como diria Machado de Assis, “ao vencedor, as batatas”. Aos demais, cabe aceitar o processo histórico peculiar que torna o Brasil hoje o centro inconteste da língua portuguesa no mundo.
(*)Mariana Grilli Belinotte é bacharel e mestre em Direito (USP, UFMG) e doutoranda em Ciência sMilitares (ECEME). Participa do Laboratório de Pesquisa em Poder Cibernético (LPCiber), e do Grupo de Estudos Estratégicos Raul Soares. É Soamarina (Belo Horizonte – MG).