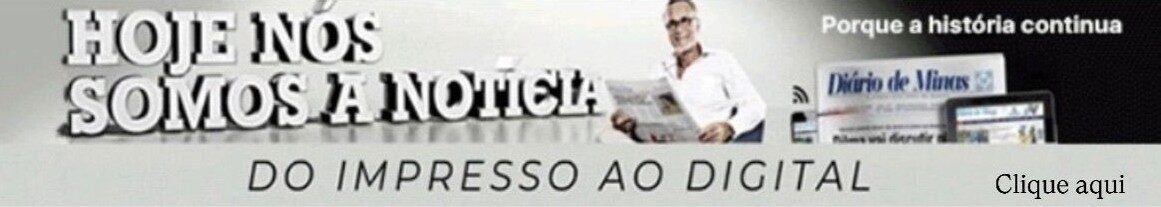Entre 1960 e 1961, trabalhando na empresa do incrível Ruy Almeida, dei meu sangue, suor e lágrima pela construção da Belém-Brasília. CRÉDITOS: Fundo Agência Nacional Série FOT Subsérie EVE
28-03-2025 às 09h48
Lutfala Bitar*
Não deu nem tempo de pensar se valia a pena: já que a ordem era ir trabalhar na estrada, lá fui eu. Recém-formado em engenharia pela gloriosa Escola de Engenharia do Pará, mas eu tinha o QI (Quem Indica) do Ruy Meira, precisava ganhar o meu pão e tinha disposição suficiente para tirá-lo do forno quente.
E assim, durante dois anos, entre 1960 e 1961, trabalhando na empresa do incrível Ruy Almeida, dei meu sangue, suor e lágrima pela construção da Belém-Brasília, a estrada que integraria fisicamente a Amazônia ao Brasil, mais de 140 anos depois que o país se constituiu como nação independente e nós, meio a força, aderimos a ele.
Aderimos em tese e disposição, mas não de fato, ‘na vera’, como então dizíamos. Para isso, era preciso que pudéssemos sair de carro de Belém e seguir sem maiores atropelos até São Luís do Maranhão, Fortaleza e ou o Rio de Janeiro, três dos mais desejados destinos dos paraenses, com destaque para a velhacap, a Cidade Maravilhosa, oásis nos nossos sonhos tribais. Na metade do século XIX o famoso Felipe Patroni, fez, por terra, o percurso entre Fortaleza e o Rio, depois de um naufrágio no primeiro trecho, saindo de Belém. Mas levou 40 dias até chegar ao ponto final.
Eu não queria tanto, mas sabia que não seria fácil simultaneamente com outros engenheiros paraenses como Maluf Gabbay, Joaquim Porto e Ulisses Vieira, desempenhar o meu papel na epopéia de rasgar a floresta compacta para alcançar a nova capital, levantada a toda pressa e com o máximo de competência (desmentindo a injusta má-fama nacional) por ordem de Juscelino Kubitscheck, no ritmo do seu governo: 50 anos em 5.
Era preciso garantir a passagem do primeiro comboio de carros que iria de Belém até Porto Alegre, inaugurando uma nova era no país finalmente unidos entre seus extremos.
JK era bafejado pela sorte: nos trechos arenosos, onde a chuva devia cair para adensar o solo, choveu; nos trechos argilosos, nos quais a água criaria atoleiro, não caiu uma gota. Os carros foram e voltaram com garbo.
Para tanto, muitos se sacrificaram dias, semanas, meses, anos. Eu, nem tanto. Mas tive malárias seguidas, que não conseguia curar, apesar das doses volumosas de aralem, rezoquina e quinino, até que me mudei para Belo Horizonte e o novo clima cortou os efeitos da sezão.
E me vitimei nada muito heroicamente, quando a balaustrada de uma ponte na qual me apoiei quebrou e fiquei entubado, cinco metros abaixo, entre duas estacas numa lâmina d’água de 50 centímetros.
Anos depois, um grupo no Clube de Engenharia, em Belo Horizonte, que visitara a obra naquela época, pediu notícias do incidente, que circulou – sempre se avolumando – entre engenheiros. ‘Morreu o cara?’, perguntaram. O ‘cara’ respondeu que não. Ou não estaria contando este ‘causo’.
A frente de obras exigia engenhosidade para superar problemas imprevistos, que nenhum manual de engenharia podia prever, e atenção permanente, para nunca deixar de aprender com o que a natureza nos oferecia.
As jornadas de 15 dias seguidas e intensas de trabalho, intercaladas com um fim de semana de descanso em Belém, eram autênticas aulas. Mesmo os incômodos de um ambiente ainda inóspito não tiravam a alegria da convivência com os outros trabalhadores e os colegas Carlos Guapindaia, Afonso Freire e Celestino Rocha.
Quando alguém lembrava o perigo das onças rondantes, logo havia um interlocutor de bom senso para ensinar que nenhum desses grandes gatos ia se interessar por nós com tanto repasto na floresta, riquíssima em animais. Mas quando o rango despejado na clareira pelo avião do Adalberto Kovacs demorava, era preciso ir atrás de caça. Desde então não posso ouvir falar em carne de anta sem certo engulho. Mas devo confessar: as antas de hoje no dia-a-dia da nossa cidade são mais indigestas.
A construção da Belém-Brasília, com seus dois mil quilômetros de extensão e o trecho do Pará sob a responsabilidade das construtoras paraenses Ruy L. de Almeida, Freire Rocha e Gualo, atravessando uma região que era marcada pela floresta densa, com numerosos mognos e cedros, árvores que hoje sumiram da área foi minha melhor escola de vida. Fui testemunha partícipe do capítulo inaugural da mais importante e decisiva fase da história da Amazônia.
Pode-se concluir desse quase meio século transcorrido que foi bom ou ruim, ou não tão bom nem tão ruim, mas inegavelmente a nossa região nunca mais voltaria a ser a mesma depois da BB, estrada tão famosa, apesar dos impropérios ditos contra ela (a ‘estrada das onças’, no batismo de Jânio Quadros), que só outra rivalizava com ela: a Brigitte Bardot (embora, cá entre nós, as curvas da BB francesa fossem mais sedutoras).
Esses dois anos foram a régua e o compasso que usei a partir daí para traçar as linhas de uma vida que, olhando retrospectivamente, sou obrigado a reconhecer que foi intensa e não foi inútil.
Pude, como São Paulo, combater o bom combate na enorme tarefa de construir uma Amazônia à altura da sua grandeza natural, grandeza que vi com meus olhos de jovem nas então remotas paragens da estrada e que nunca mais esqueci