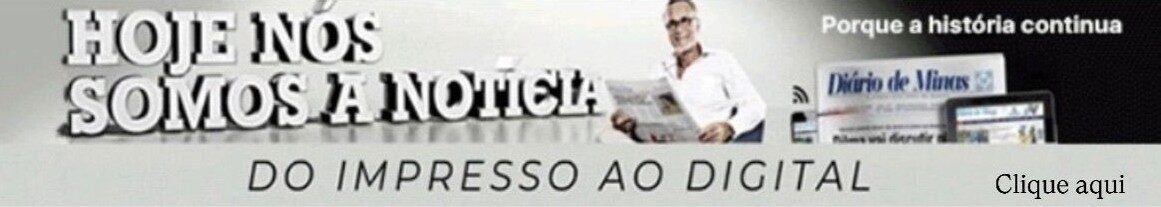Nos morros, os vários pés de café compunham uma paisagem marcada pela monotonia da monocultura. CRÉDITOS: Sérgio Augusto
09-07-2025 às 08h03
Sérgio Augusto Vicente*
Em julho de 1910, o casal de Trás-os-Montes (Portugal) tomava posse de sua propriedade no distrito de São Pedro de Alcântara (atual Simão Pereira). Naquela fase da vida, o casal já sustentava uma prole composta de cinco meninas e três meninos.
Manoel era o mais velho da turma. Foi o único que nasceu em Portugal e sentiu o balançar do navio na travessia do Atlântico, enquanto a mãe o amamentava no colo. Os demais nasceram todos no distrito de Vargem Grande (atual Belmiro Braga). Depois do primogênito vinham os irmãos Maria e Romeu, Aurora, Mariana, Palmira, Joaquina e Nazário. Pela pouca idade, este talvez tenha sido o único que não percebeu a emoção da família ao entrar, pela primeira vez, numa casa própria. Num país tão desigual, oligárquico, marcado pela concentração de terra nas mãos dos coronéis, tal conquista era, de fato, motivo de grande comemoração. Através do harmônico e delicado traço da caligrafia do “tabelião-poeta” e “poeta-tabelião” Belmiro Braga (1870-1937), a escritura informava que a propriedade possuía oito alqueires de extensão, era acompanhada de uma casa assoalhada, provida de duas janelas de frente com vidraça, nove cômodos e uma varanda de madeira nos fundos. O documento informava, ainda, que o sítio possuía um paiol, cultura de café e pasto.
Por essa ocasião, a propriedade fazia divisa com as terras dos senhores Antonio Goulart e José Luís. Certo tempo foi necessário para que os novos donos se apropriassem plenamente daquele espaço e ali construíssem sua própria gramática espacial. Como numa trova de Belmiro, aos poucos, conseguiam “rimar” cada metro quadrado da propriedade com suas personalidades.
A sede tinha sede de vida. Nos morros, os vários pés de café compunham uma paisagem marcada pela monotonia da monocultura. Com exceção das áreas de plantação de roça de milho, arroz e feijão e do trecho recentemente queimado pelo incêndio criminoso, os pés de café dominavam o cenário.
No quintal, enquanto isso, poucas árvores preenchiam o espaço vazio, ainda “morto” e “insosso”. Muito sol e poucas sombras. Dois raros exemplares da botânica chamavam a atenção dos novos moradores: o pé de manga no terreiro, cujos frutos até hoje dão sabor e cheiro às festas de fim de ano. Debaixo de sua frondosa copa, diversas gerações se refrescaram do calor e bateram longos papos, enquanto assistiam à vida passar ao ritmo mineiro.
No fundo do quintal, já estava lá o saudoso pé de coité, há pouco plantado pelo ex-proprietário do sítio. Há mais de um século, em certo período do ano, a exótica árvore perde todas as folhas, finge-se de morta, para logo em seguida nos surpreender com toda a sua vitalidade naturalmente restabelecida. Seus frutos, embora não comestíveis, transformam-se em tradicionais utensílios da cozinha de roça. Sua carapaça dura, em formato oval, quando serrada pela metade, limpa e seca, é utilizada como cuia, em que o mineiro saboreia seu revigorante café com leite com angu. Além, é claro, de ser uma peça fundamental dos berimbais que animam as rodas de capoeira pelo Brasil afora.
No terreiro, debaixo do pé de manga, as crianças brincavam soltas, longe dos adultos. Os irmãos mais velhos, como de costume, ajudavam a cuidar dos mais novos. Dentro de casa, pouquíssimos móveis. As roupas, bem escassas e utilitárias, eram guardadas em baús. A cozinha, em chão de terra batida e com as paredes internas sem reboco, deixava à mostra os tijolinhos de barro maciço enegrecidos pela fumaça e o picumã do fogão à lenha. Por uma pequena abertura retangular na parede, dotada de vidro transparente, entrava a luz natural do dia, proporcionando a iluminação do ambiente. A energia elétrica, recém-chegada a Juiz de Fora, ainda demoraria muitas décadas para chegar à zona rural.
À noite, a iluminação era a velas, lamparina ou candeia. Abastecida com querosene, a lamparina emitia uma fumaça escura dentro de casa, escurecendo as narinas dos moradores. A candeia (talvez o menos conhecido desses objetos nos dias de hoje), era abastecida com azeite de oliva e, por isso, tinha a vantagem de não poluir o ar com a fumaça tóxica. Seu sistema era simples: uma placa de barro tampava a “boca” do objeto, deixando apenas um pequeno buraco por onde passava o pavio de algodão. O objeto era muito usado nos quartos onde ficavam as crianças ainda não batizadas. Segunda a crença popular da época, as crianças pagãs não podiam dormir no escuro, pois assim ficariam expostas às maldades do diabo.
O conforto da água encanada e do banheiro dentro de casa não se passava de um futuro ainda distante. Sem água, não havia rede de esgoto. Os tradicionais penicos esmaltados faziam as vezes do confortável vaso sanitário. Debaixo de todas as camas, estavam eles sempre prontos para aliviar as “aflições” dos moradores e das visitas. Não por acaso, muitas famílias os apelidavam carinhosamente de “doutores”. Durante o dia, muitos os poupavam, preferindo fazer suas necessidades fisiológicas no mato. Naquele contexto, tal rotina era de “praxe” em quase todas as casas da roça. De tão raro, o banheiro nem sequer tinha sua ausência reclamada pelos moradores. Somente na década de 1980 a sede teria seu primeiro banheiro construído.
Os antigos costumavam dizer que a água é o bem mais precioso de uma propriedade. O sítio Buraco Fundo, felizmente, não era mal servido nesse quesito. A mina d’água, existente no quintal, supriria as necessidades da família. Localizada a uns quinze metros de distância abaixo do nível da sede, o grande desafio, porém, era conseguir superar a lei da física e fazer com que a água chegasse dentro de casa. Só a tecnologia era capaz dessa façanha, o que demandava investimentos inviáveis a uma família camponesa de baixa renda. E, assim, desde que se estabeleceram no local, todos acabaram se adaptando ao “eterno” subir e descer da ladeira da “bica”. Uma ladeira íngrime, por onde, há mais de um século, várias gerações transitaram para saciar a sede, tomar banho, lavar roupas, pratos e talheres. Diariamente, baldes e latas desciam vazios e subiam cheios de água, sobre as costas dos novos moradores.
Tão logo se apossando das terras, Serafim e Patrocínia trataram de revitalizar o espaço da mina. Dentro da nascente, exatamente no local em que a água brota da terra, Serafim enterrou um barril de carvalho sem tampa, possibilitando que a água ali se depositasse e se acomodasse, decantando os resíduos minerais do solo. Depois disso, adaptou um cano de ferro grosso, de mais ou menos três metros de comprimento, pelo qual a água escorre até uma pedra enterrada no chão, onde cai límpida e cristalina, pronta para o consumo.
Serafim também construiu um novo chiqueiro de porco no quintal da sede. Esta era uma de suas prioridades. Não é novidade dizer que o porco é até hoje uma das principais fontes de ingredientes da culinária mineira, herança que tem grande participação dos portugueses. Dele não apenas se come a carne, como também se utiliza a gordura na preparação das refeições diárias. Ao porco o mineiro da roça também dedica grande parte de sua rotina de trabalho. Uma velha trova popular mineira, citada nas memórias do escritor juiz-forano Pedro Nava, parece resumir essa curiosa cadeia alimentar: “o mineiro planta o milho, o mineiro cria o porco; o porco come o milho e o mineiro come o porco”.
Rapidamente, o chiqueiro ficou pronto. E, logo em seguida, a “residência suína” recebeu seu primeiro “hóspede”. Em alguns meses, o porco comprado por Serafim já estaria pronto para o abate, garantindo o sustento da família. As latas se encheriam de carne e gordura. Em cima do fogão à lenha, com a chapa de ferro trazida da fazenda de café onde trabalharam por quase duas décadas, as peles penduradas no varal seriam naturalmente defumadas, enquanto Patrocínia preparava as refeições diárias.
Antes de ficarem expostas à fumaça, as peles, as orelhas, o rabo, os pés e as costelas eram curtidas no sal durante vários dias. O hábito veio de Portugal com Patrocínia e Serafim. A inexistência de geladeira e energia elétrica levou à utilização dessa antiga técnica de conservação. No Brasil, a técnica sofreu algumas adaptações, devido ao calor tropical, nada comparável ao verão europeu. Aqui, ao contrário de lá, era necessário utilizar uma quantidade muito maior de sal para conservar a carne, “segredo” que Patrocínia e Serafim pareciam desconhecer quando foram apresentados à vida nos trópicos. Até aprenderem a “manha”, ambos sofreram com os prejuízos da carne estragada. Com esses recursos simples, trabalhosos, mas eficientes, a vida seguia seu ritmo, com pouca ambição, conforto e ostentação. No almoço e na janta, consumia-se o básico para a subsistência, como arroz, feijão, angu, verdura e ovo de galinha.
As melhores refeições eram reservadas às ocasiões festivas, como domingo de Páscoa e Natal. Serafim Cardoso seguia à risca a tradição das fartas ceias natalinas, que marcaram a memória dos filhos e netos. Economizava-se ao longo do ano para que se pudesse proporcionar à família, parentes e amigos um almoço especial nessas ocasiões.
No cardápio, não podia faltar a tradicional bacalhoada. O bacalhau vinha de Portugal direto para o Rio de Janeiro, de onde era distribuído para diversas regiões do Brasil. Próximo à Semana Santa e ao Natal, Serafim não deixava de encomendar o produto aos donos de armazéns da redondeza. A importação elevava o preço da mercadoria, dificultando seu consumo diário pelas famílias menos abastadas. Mesmo assim, com o preço mais salgado que o suor do trabalho, seu consumo era sagrado nesses momentos do ano.
O vinho e o licor de uva também não podiam faltar. No mês de dezembro, as parreiras na frente e no fundo da casa se enchiam de uva, proporcionando a matéria-prima necessária à produção artesanal da bebida. Ao lado da casa, o forno construído pelo casal assava as deliciosas massas de pão, biscoitos de polvilho e de nata. Feito de casa de cupim e assentado sobre a base de tijolinhos de barro maciço, o forno permaneceu ativo enquanto Patrocínia conseguiu se dedicar à cozinha.
Através desses e outros hábitos e iguarias, o casal português tentava transplantar para aquelas terras as raízes portuguesas que, há cerca de duas décadas, deixaram para trás. Talvez assim tentassem impedir que velhos hábitos e tradições da vida em Trás-os-Montes caíssem nas armadilhas do esquecimento.
Apesar da vida simples e rústica da roça, xícaras, pires, copo de cristal, açucareiros, travessas, compoteira e bules de louça eram usados na mesa do café, principalmente na hora de recepcionar as visitas. Era uma forma cortês, respeitosa e carinhosa de acolher o outro e valorizá-lo. Na copa, um copo grande e pesado de cristal ficava ao lado de uma talha de madeira, onde todos bebiam a água trazida da mina. No outro canto da copa, um pequeno copo de cristal, posicionado entre a licoreira e a garrafa de cachaça, servia para os trabalhadores e convidados darem aquela “provinha” que aquecia os corpos antes de iniciar a labuta diária e abrir o apetite na hora do almoço. Era com esse copinho de cristal que os convidados das festas de São João também provavam os tradicionais licores que animavam os forrós, aqueciam o frio do sereno e encorajavam o ritual de caminhar descalço sobre as brasas da fogueira.
Tanto os meninos quanto as meninas se dedicavam à lida na roça. Às meninas também era tributada a responsabilidade de cumprir com esmero os afazeres domésticos, como cozinhar, lavar, passar e costurar. Foi se preocupando com esse aspecto da formação feminina que Patrocínia comprou, logo após a mudança para o sítio Buraco Fundo, uma máquina de costura da marca Singer, na qual as filhas aprenderam a costurar e se transformaram em moças prendadas. Como era costume entre as famílias pobres na roça, as roupas, além de serem confeccionadas em casa, eram constantemente reaproveitadas com remendos feitos com retalhos de tecido. Esses retalhos, que um dia foram peças de roupa de alguém, eram costurados uns aos outros, dando forma às lindas e coloridas colchas, que não apenas enfeitavam as camas, mas também ajudavam a agasalhar o corpo durante as noites de inverno.
A escola era frequentada somente nos anos iniciais. O objetivo era apenas aprender a ler e escrever, fazer as operações básicas da matemática e decorar algumas informações de história e geografia do Brasil. As meninas Palmira e Mariana foram as únicas que deixaram à posteridade os vestígios desse período escolar. Alunas aplicadas e dedicadas aos estudos, foram agraciadas pelas professoras com dois objetos até hoje preservados pela família. Palmira ganhou uma xícara e um pires de porcelana ricamente pintados a ouro, contendo em seu interior uma singela e graciosa boneca. Mariana, por sua vez, foi presenteada pela professora Conceição Corrêa Pinto com um pequeno livro de geografia elementar de Arthur Thiré, com o qual aprendeu noções básicas de relevo, demografia do Brasil e patriotismo. A publicação trazia em suas páginas uma lista com os nomes dos presidentes brasileiros que já haviam passado pela jovem república: Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Morais, Campos Sales e Rodrigues Alves.
Ensinando o estudante a amar a nação e cultuar o patriotismo, o livro possuía um discurso bastante afinado com a obra “Porque me ufano do meu país”, um famoso manual cívico que o escritor Afonso Celso acabara de publicar em 1901. Através daquelas páginas, a menina Mariana também conhecia as imagens da capital federal que se popularizavam na imprensa do início do século. Imagens essas registradas, em sua grande maioria, pelas lentes dos famosos fotógrafos Marc Ferrez e Augusto Malta.
Arthur Thiré exaltava um Rio de Janeiro marcado pelas recentes reformas empreendidas pelo prefeito Pereira Passos: “Graças às obras recentemente realizadas, o Rio de Janeiro apresenta hoje o aspecto de uma vasta cidade moderna, cortada de largas e extensas avenidas, com ruas espaçosas e claras, múltiplos jardins profusamente floridos, praças amplas e bem alinhadas, excelente e cômodo calçamento.”
E, assim, em tom panfletário e romântico, arrematava seu discurso: “Com a realização de todos os melhoramentos modernos já executados, e de outros em via de adiantada realização, a cidade do Rio de Janeiro vai se tornando uma das mais belas, mais importantes, mais saudáveis e mais adiantadas cidades do mundo.” O autor se deslumbrava com um projeto civilizatório comprometido em apagar o passado colonial da cidade e aproximá-la dos modernos ares da “Belle Époque” francesa. A Avenida Central, antes estreita e apinhada de casas coloniais e cortiços, recebeu nesse período a feição de uma avenida ampla, larga e arejada, que lhe rendeu, inclusive, um novo nome: Avenida Rio Branco – como é conhecida até hoje.
O momento era de encantamento e otimismo do homem ocidental com o progresso científico e tecnológico, materializado pela invenção do avião por Santos Dumont, a evolução do automóvel, o avanço da industrialização, etc. O discurso passava bem longe das graves mazelas que atormentavam um país regido pelo “liberalismo oligárquico” e pela “herança maldita” da escravidão recém-abolida formalmente. Mazelas que motivariam o escritor Lima Barreto (1881-1922), poucos anos mais tarde, a apelidá-lo de “República da Bruzundanga”.
A atmosfera era de total confiança na marcha para um progresso constante. Certeza essa que seria rapidamente abalada pela Primeira Guerra Mundial, que assolaria a Europa entre 1914 e 1918. Pelas românticas palavras do autor do livro didático, Mariana talvez tentasse desenhar mentalmente a imagem do local onde, duas décadas atrás, seus pais pisaram pela primeira vez, quando chegaram ao Brasil. Não imaginava que, anos mais tarde, aquela cidade lhe serviria de cenário para uma experiência pouco ou nada romântica…
(A história continua em outra edição do jornal… Aguardem!)
*Sérgio Augusto Vicente éProfessor de História e Historiador. Doutor, Mestre, Bacharel e Licenciado em História pela UFJF. Colunista do jornal “Diário de Minas” e colaborador de outros periódicos. Membro correspondente da Academia de Letras, Artes e Ciências Brasil (Mariana-MG). Trabalha na Fundação Museu Mariano Procópio (Juiz de Fora-MG)