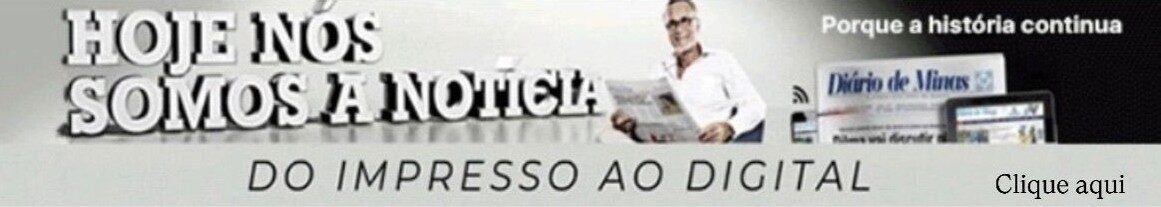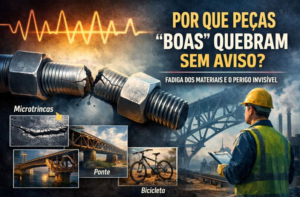Teatro Central de Juiz de Fora, MG - créditos: Teatro Central
01-02-2025 às 08h18
Wilson Cid
Na leitura dos intelectuais que se interessaram pelas questões de que tratamos aqui – Albino Esteves e os três Oliveiras: Estêvam, Almir e Paulino, para citar apenas alguns, sabemos que os caracteres que forjaram essa colônia são menos ou mais sensíveis segundo a região de onde procederam os imigrantes. É importante registrar este dado, para se compreender certa diferença cultural entre eles. Há casos conhecidos aqui. Sob alguns aspectos, um napolitano parece estrangeiro frente a um calabrês, embora tudo que os diferenciasse ruísse por terra quando, por exemplo, estavam em tela certos valores artísticos que falavam mais alto que eventuais divergências. E então eram unânimes. E aí entram Angelo Biggi, que ajudou a imortalizar Juiz de Fora e projetá-la para o Brasil com as pinturas do Theatro Central; Luigi Rufolo, citado entre os maiores violonistas do País no seu tempo; a Banda Garibaldina, de Luiggi Loreto, onde só os italianos podiam tocar.
Interessante é que, mesmo detentores de imensa musicalidade, foram aqueles citados os poucos, quase únicos, que se valeram dela como forma de sua afirmação cultural. Durante muito tempo, o talento da colônia se restringiu e se consumiu na banda do Loreto, o violino do Rufolo e manifestações familiares isoladas. A música, como veículo da arte e dos sentimentos inerentes, demorou a chegar ao grande público. Em 1957, o cantor Nino Delmonte passava a apresentar programas semanais na Rádio Difusora. Pouco antes dele, o Teatro Experimental de Ópera, da professora Alaíde Margarida, escola do bel canto, onde proliferaram descendentes. No mais, algumas iniciativas na Casa D’Italia, obra de concepção arquitetônica fascista, inaugurada em 1939. Ocorriam ali os recitais “Dopolavoro” (depois do trabalho), que cuidavam menos de divertir e mais de conscientizar politicamente, tal como o Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro, que ali também funcionou.
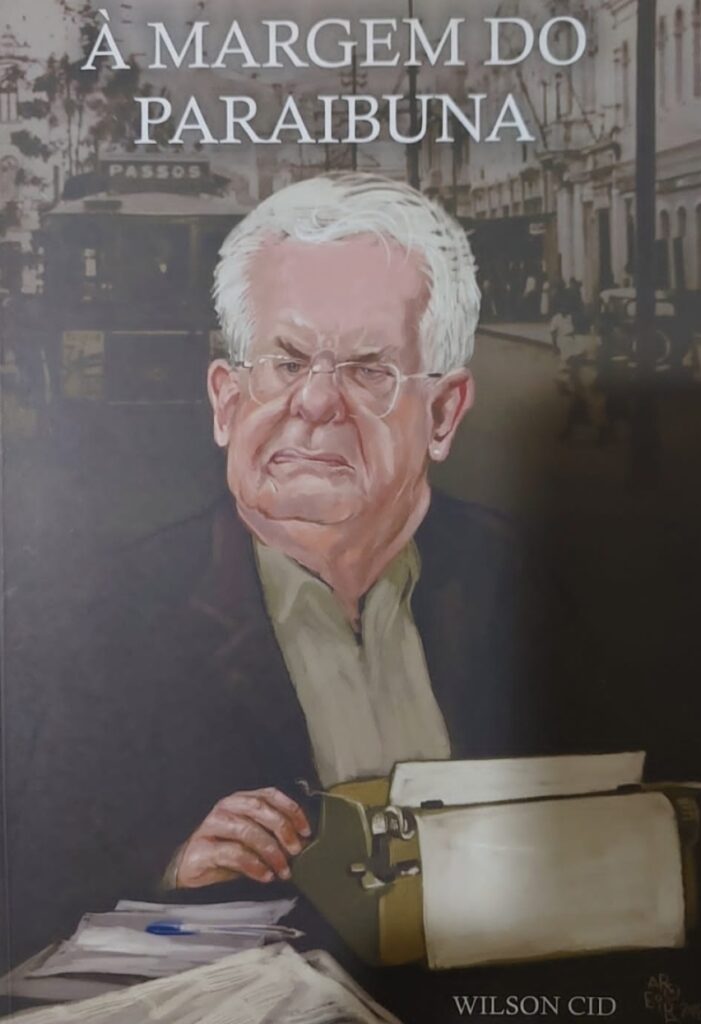
Seja como for, as artes, como maior ou menor intensidade, são ingrediente importante no organismo da cultura; a cultura, como veículo de afirmação, quase tão essencial como a língua, que foi sendo absorvida pelo português, a toda hora ouvido no cotidiano das vidas em comum. O idioma poderia até correr o risco de estar em parte esquecido no falar e nas relações, se entusiastas como Iris Maestrini e raros grupos antecessores de descendentes não preservassem alguma coisa, muito além do “bom giorno” e “tante grazie”. Sente-se então que foram os costumes que permaneceram em boa forma nas individualidades.
Como resumi-los? A bocha com os amigos, o copo de vinho, conversas patrícias, roupas mais largas, viagens curtas, às vezes ao Rio, nas caravanas de Dona Concheta para rezar na capela de San Francesco. Sentimentalmente, como convém. Às vezes, atividades sociais na Casa D’Italia.
E o respeito patriarcal, sem faltar um hábito interessante, que ficou no passado, e de lá não mais saiu: a celebração respeitosa da autoridade hierárquica e familiar. Não faltam exemplos. Um deles: há quatro ou cinco décadas, quem parasse na banca de jornais que havia na esquina de Halfeld e Getúlio Vargas podia ver, não poucas vezes, italianos tomando a bênção de Dom Ercole Caruso. Beijavam-lhe a mão direita, dirigindo-lhe poucas e medidas palavras em voz baixa. Nada mais que o necessário. De fato, muitos dos recém-chegados deviam àquele chefe o primeiro teto, a primeira mesa, o primeiro emprego de jornaleiro. Não era pouco. Tudo permitido, menos a ingratidão.