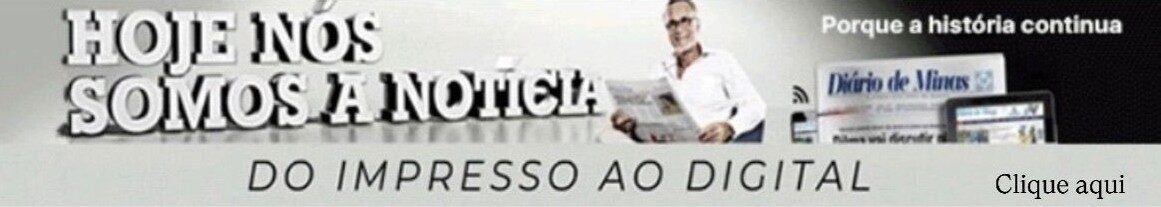Povos indígenas se manifestam na Cop30 - créditos: divulgação
23-11-2025 às 11h41
Marcelo Castro (*)
A história da ocupação territorial do Brasil nasceu da disputa desenfreada por poder. Portugal e Espanha dividiram o mundo ao meio no Tratado de Tordesilhas (1494), ignorando completamente quem já vivia nestas terras há milênios. Era a geopolítica da ganância: cada palmo valia ouro, prata, influência, domínio.
Quando Portugal implantou o sistema de capitanias hereditárias, em 1534, entregou longas extensões de terra a donatários responsáveis por explorá-las e defendê-las. A Espanha adotou modelo semelhante, por meio da encomienda, que concedia terras e o controle direto sobre populações indígenas.
Ambos os regimes criaram o mesmo cenário: concentração de terras e exploração sistemática dos povos originários.
A liberdade que não libertou
A assinatura da Lei Áurea, em 1888, representou o fim formal da escravidão, mas não a inclusão real. Como lembra Mário Sérgio Cortella, “libertar não é incluir”. E o Brasil libertou sem oferecer terra, moradia, educação ou dignidade.
Com a Constituição de 1988, os quilombolas alcançaram um passo importante: o Art. 68 do ADCT garantiu a titularidade coletiva de seus territórios. Já os povos indígenas, apesar de reconhecidos como originários, permanecem sem direito real à propriedade: suas terras são da União, e a autonomia segue limitada.
Povos originários: donos da terra sem o direito à terra
A legislação indígena ainda carrega a herança tutelar. O Artigo 231 garante uso exclusivo do território, mas não sua posse definitiva. A demarcação depende da União, e o uso econômico enfrenta restrições que impedem autonomia real.
Depois de 525 anos, muitos povos continuam convivendo com:
aldeias sem saneamento
ausência de tecnologia
exclusão educacional
dependência econômica
exploração política e social
Enquanto isso, eventos internacionais exibem símbolos indígenas como vitrine. Como lembra Luiz Felipe Pondé, “o Brasil adora símbolos, mas foge das responsabilidades”. É exatamente isso: cocares e cantos no palco; fome, abandono e invisibilidade no cotidiano.
A tutela como prisão do destino
Antes de 1988, documentos oficiais tratavam os indígenas quase como incapazes. Mesmo o Estatuto do Índio (1973) manteve a lógica tutelar. A redemocratização reconheceu suas culturas, línguas e tradições, mas não rompeu totalmente com esse ciclo.
É uma emancipação pela metade — liberdade jurídica que não se traduz em autonomia prática.
COP 30: entre aplausos e contradições
Com a COP 30 se aproximando, o Brasil tenta se apresentar como referência ambiental. Mas como conciliar o discurso internacional com a realidade nacional?
A pauta indígena não se sustenta apenas com presença simbólica. É preciso enfrentar:
a falta de titularidade definitiva da terra
a ausência de políticas de autonomia econômica
a exclusão tecnológica e educacional
o abandono estrutural que atravessa gerações
O risco é transformar a COP 30 em um espetáculo estético, enquanto as aldeias seguem vivendo um cenário que o país insiste em não enxergar.
Conclusão: evolução interrompida
A história brasileira parece caminhar em círculos. Os mesmos padrões coloniais reaparecem com novas roupas. Como você escreveu, Marcelo, seguimos “patinando como barata no mel”, entre passado e futuro, incapazes de romper a armadilha histórica.
Se o Brasil quiser ser protagonista na COP 30, precisa fazer algo simples e revolucionário:
tratar os povos originários como sujeitos plenos, não como adereços políticos ou espécies protegidas.
A verdadeira emancipação só virá quando indígenas, os heróis do PIN e Famílias dos Soldados da Borracha, tiverem autonomia sobre seu destino — não apenas reconhecimento jurídico, mas liberdade prática.
Enquanto isso não acontecer, continuaremos repetindo a mesma história.
Com outros discursos.
E os mesmos erros.
(*) Marcelo de Castro Souza, é técnico em Meio Ambiente, trabalha com mudanças de categoria de Unidade de Conservação na região da BR 163